Geová Alves, presidente da Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique (ACTB) fala sobre o potencial de geração de renda e os desafios para o uso sustentável dos recursos da biodiversidade e conhecimentos tradicionais
O Arquipélago do Bailique, no Amapá, é um conjunto de oito ilhas que abriga diversas comunidades tradicionais e que tem uma forte tradição de associativismo e cooperativismo. Localizado a cerca de 170 km da capital, Macapá, o Bailique foi um dos primeiros territórios a criar um protocolo comunitário para a proteção dos conhecimentos tradicionais – e isso mesmo antes da nova Lei da Biodiversidade, criada em 2015 e que regula a pesquisa e o desenvolvimento de produtos com patrimônio genético e conhecimento tradicional associado.
Na entrevista do mês de maio do Escolhas, Geová Alves, presidente da Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique (ACTB) e vice-presidente da Amazonbai (Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Bailique e do Beira Amazonas), fala a respeito do processo de fortalecimento comunitário, da importância do associativismo e do quanto o Brasil pode ganhar diminuindo a burocracia e investindo no uso sustentável da biodiversidade, em prol do desenvolvimento sustentável.
“Nossa meta é alcançar todos os mercados do mundo e provar, principalmente para o Poder Público, que não precisa destruir a floresta para gerar renda. E eu tenho certeza de que daqui a um, dois anos, a gente vai conseguir provar isso”, diz o presidente da ACTB.
Saiba mais na entrevista abaixo:
ESCOLHAS – Como as comunidades do Arquipélago do Bailique se organizaram politicamente para estruturar suas atividades produtivas, especialmente com relação ao agroextrativismo?
GEOVÁ ALVES – Até a década de 80, o Bailique era muito pouco habitado, com algumas comunidades fundadas por portugueses e alguns registros de holandeses. O primeiro período de crescimento populacional aconteceu com a vinda de imigrantes, principalmente do Pará, para a exploração do palmito. Era uma atividade muito intensa que praticamente acabou com a maioria dos açaizais no Bailique. Quando a fiscalização ambiental começou a ficar mais severa, as fábricas ilegais foram embora e a partir da década de 90 houve o boom do açaí nos estados do Amapá e do Pará, começando uma nova cadeia produtiva, em que se passou a tirar o açaí e não o palmito. Em paralelo, começaram a crescer atividades como peixes, plantas medicinais, extração de óleos e agricultura familiar.
A organização comunitária foi muito puxada pela igreja, primeiro a Igreja Católica e depois a Igreja Protestante, que criava os núcleos familiares dentro de um território na ilha, construindo casas e fazendo passarelas de madeira, e começou também a organizar os produtores, principalmente com peixe e açaí. Posteriormente, começou um movimento de organização mais amplo, com o surgimento do Conselho Comunitário do Bailique, 35 anos atrás e, um pouco antes, a colônia de pescadores, que hoje conta com mais de 1.800 sócios.
O Conselho Comunitário começou a organizar a comunidade no sentido mais político, com uma metodologia de organização e representatividade, e a criação das associações comunitárias passou a representar cada comunidade. Mesmo assim, a produção não era organizada de forma coletiva; o pescador vendia sua produção individualmente. Os produtores foram capacitados, sabiam o que era manejo, mas não tinha um trabalho coletivo de organização e venda da produção. Tudo isso começou a partir de 2015, dentro do protocolo comunitário e a discussão da criação da cooperativa.
ESCOLHAS – E como você se envolveu com o trabalho de liderança comunitária, entrando em um tema tão complexo, como a legislação de acesso aos recursos genéticos?
GEOVÁ ALVES – Até a década de 90, o pessoal que morava no Bailique tinha que ir até a capital terminar os estudos. Em 98, o governo trouxe para cá da quinta série até o terceiro ano do Ensino Médio, mas com uma metodologia diferente, com diversas disciplinas específicas, envolvendo questões ambientais e de produção, olhando o desenvolvimento sustentável, a extração de recursos naturais de forma responsável e a organização comunitária. No final do Ensino Médio, eu já sabia que ia fazer alguma coisa na área ambiental e social e tinha uma faculdade de Macapá que oferecia um curso de administração socioambiental, justamente dentro do que eu queria: o movimento das comunidades. Eu me formei, vim de Macapá em 2008 em 2012 e me tornei presidente da Associação da Comunidade de Macedônia, onde eu moro, que é a segunda maior comunidade do Bailique, que tem em torno de 1.100 habitantes.
Nesse período, em 2012 e início de 2013, no segundo ano de mandato, a Rede GTA [Grupo de Trabalho Amazônico] veio pro Bailique com a proposta de desenvolver o protocolo comunitário junto com a OELA [Oficina Escola de Lutheria da Amazônia], o Ministério do Meio Ambiente e outras entidades. Eu fui convidado, comecei a participar da oficina de consulta e das oficinas seguintes e desde então estou no projeto, ajudei a construir a metodologia do Protocolo Comunitário – que foi desenvolvida na prática – e ajudei a construir o Acordo de Convivência de cada comunidade. A minha experiência em ABS [Acesso e Compartilhamento de Benefícios, na sigla em inglês] veio muito em função do protocolo comunitário, que é um dos temas de maior discussão desde as oficinas de consultas.
ESCOLHAS – Muito se fala sobre estratégias para ajudar as comunidades tradicionais a desenvolverem negócios comunitários com seus próprios conhecimentos e as espécies nativas presentes em seus territórios. O Bailique tem uma experiência muito interessante nesse sentido, com a criação da Amazonbai. Como funciona a cooperativa e por que decidiram criá-la?
GEOVÁ ALVES – Depois que a gente terminou a fase de envio dos documentos para o Protocolo Comunitário, a gente voltou para duas demandas do projeto que eram consideradas prioritárias: cadeia produtiva como uma forma de geração de renda e olhar para o projeto também como uma parte da educação. Em 2015, iniciamos uma discussão para ver como fazer a gestão desse protocolo e de que forma a gente ia cuidar dessa parte da cadeia produtiva da educação. Então, criamos a ACTB [Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique] para fazer essa gestão e representar as comunidades membros do protocolo.
A ACTB começou uma discussão, com o apoio de advogados, de qual seria o melhor modelo de gestão para trabalhar com as cadeias produtivas. A gente considerou que a cooperativa é um modelo de empresa mais justo, porque permite um trabalho coletivo comunitário e a repartição de benefícios e de sobras é proporcional ao que cada um produz. Depois de um ano e meio de discussão, a gente decidiu criar uma cooperativa a partir da ACTB e em fevereiro de 2017, decidimos criar a Amazonbai [cooperativa que reúne agroextrativistas do Bailique e também da região do Beira Amazonas], que é um modelo de empresa que mais se aproxima da nossa realidade.

ESCOLHAS – A partir da experiência da Amazonbai, o que você acredita que precisa ser feito para apoiar as comunidades na criação de negócios sustentáveis e incentivá-las a desenvolver produtos a partir dos seus conhecimentos tradicionais?
GEOVÁ ALVES – A gente tem diversos desafios ainda para trabalhar com cadeia produtiva no Bailique e no Beira Amazonas. A distância é muito grande. Quando a gente vai trabalhar com um peixe, a gente tem que ter uma estrutura local para preparar este peixe para que chegue com qualidade a Macapá ou a Belém. Com o açaí, ainda mais. Se logo depois de colhido, ele não for processado em câmaras frias com gelo, perde muita qualidade e 12 horas depois já não presta para nada.
Do ponto de vista de direitos a políticas públicas, a gente não tem nenhum tipo de subsídio apesar de existir um fundo do estado, o FRAP [Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá], e outros fundos para subsidiar essas cadeias produtivas, mas que a gente não tem acesso por conta da burocracia. Por exemplo, na maioria do território do Bailique, os produtores não têm um documento que garanta a posse, que são terras públicas. O que nós temos hoje é um termo de autorização de uso sustentável [TAUS], que o órgão do estado tem dado. Diante das exigências do banco, a gente vê uma situação impossível de acessar as políticas públicas.
A cadeia produtiva dos óleos é a quarta mais importante do Bailique, possui uma demanda de mercado muito grande, gera um volume de recursos enorme, mas não tem estrutura ou ajuda do Estado. A terceira cadeia produtiva mais importante, que é a de plantas medicinais, esbarra numa questão da legislação: a gente tem 135 plantas medicinais de que a gente produz vários tipos de remédio a partir do conhecimento tradicional, mas na hora da gente vender é impedido por conta das exigências da Anvisa. A Amazonbai deu sorte por ter conseguido um número tão grande de parceiros para poder tocar a cadeia produtiva do açaí, mas a ausência do Estado é bem marcante e isso dificulta muito. O cenário é bastante desafiador, mas a gente já conseguiu vencer muita coisa e estamos perto de alcançar nossa meta.
ESCOLHAS – E qual é essa meta?
GEOVÁ ALVES – A missão da Amazonbai é alcançar todos os mercados do mundo e gerar desenvolvimento no território do Bailique; é mostrar para todo mundo, especialmente para o Poder Público, que para eu gerar desenvolvimento eu não preciso derrubar a floresta, eu não preciso destruir tudo e eu tenho certeza absoluta de que daqui a um, dois anos, a gente vai conseguir provar isso. Quando o próprio governo do estado ver o volume de recursos que a Amazonbai vai movimentar em 2021, 2022 e assim por diante e a transformação que ela vai proporcionar aqui no Território, tenho certeza que a gente vai conseguir provar que a floresta em pé é capaz de gerar muito mais riqueza do que a floresta destruída. E quando eu falo da riqueza é riqueza distribuída, não é na mão de um fazendeiro ou de um sojeiro. No caso da Amazonbai, nós somos 141 sócios, mas temos ainda funcionários na fábrica, tem a equipe técnica local, os articuladores locais. São mais de 1.000 famílias beneficiadas diretamente. A renda não fica acumulada na mão de uma pessoa só.
ESCOLHAS – Os três maiores bancos privados do País, Itaú, Bradesco e Santander, divulgaram ano passado um documento se comprometendo a investir na bioeconomia. Como você acredita que os bancos podem ajudar os negócios comunitários na Amazônia a terem acesso a financiamento que hoje só servem para apoiar a pecuária e o plantio de soja?
GEOVÁ ALVES – A dificuldade nossa é a burocracia. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica têm fundos que gente não consegue acessar. Além da documentação, o banco exige muita garantia. O comunitário, o membro de comunidade tradicional, é o melhor pagador que existe no mundo. Ele não gosta de ficar devendo nenhum centavo, desde que se crie as condições necessárias para que ele faça isso. O que está faltando é unicamente criar instrumentos adequados. As comunidades tradicionais devem ser tratadas de forma diferente das empresas, dos grandes pecuaristas e do pessoal da soja.
ESCOLHAS – Como tem sido a relação das comunidades do Bailique com pesquisadores e empresas que querem acessar seus recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais através do Protocolo? Que medidas você acredita que podem ser tomadas para que essas relações sejam mutuamente benéficas e sobretudo respeitem as condições impostas pelas comunidades para o acesso?
GEOVÁ ALVES – A gente tem uma relação muito boa com as universidades. Inclusive tem vários pesquisadores fazendo doutorado ou mestrado com o tema protocolo comunitário do Bailique. Os pesquisadores apresentam o interesse para a ACTB, que consulta a liderança das comunidades, permitindo o acesso do pessoal da universidade ao território para ver seu trabalho, com a condição de que o resultado seja divulgado e seja de conhecimento da ACTB e das comunidades envolvidas.
Já as empresas se afastaram um pouco do Bailique. Antes, elas chegavam e discutiam com uma família aqui, uma família ali e acabavam recebendo o conhecimento tradicional, usando patrimônio genético e iam embora sem nem dizer muito obrigado. Isso mudou bastante. Com o protocolo, nós começamos a ver que como comunidade tradicional a gente tinha o direito de usar e de proteger também o próprio patrimônio genético do território. Não que a intenção fosse barrar a entrada de atores interessados, mas criar instrumentos para que a gente pudesse se relacionar com eles de igual para igual, com o mesmo nível de informação pelo menos. Agora, tem várias etapas que precisam ser vencidas junto com a comunidade para que se chegue a acordos para o desenvolvimento de algum projeto. Então, desde o protocolo, teve pouquíssimas tentativas de conversa.
A gente reconhece que existe uma certa dificuldade nessa relação em função do próprio protocolo que a gente criou e já tinha sentido a necessidade de adequar o protocolo à nova legislação e de conseguir melhorar esses acordos ou construir novos acordos para que a relação com as empresas seja retomada, seja facilitada. O tempo que as empresas têm para lançar um produto no mercado é um tempo curto. Eu acho que é possível desenvolver essa relação por meio do protocolo comunitário, mas, da nossa parte, falta criar alguns instrumentos mais adequados para que isso aconteça – e a gente pretende fazer isso agora de 2021 até a metade de 2022. Já temos um novo protocolo revisado e atualizado, com novos acordos voltados para ABS.
ESCOLHAS – Grande parte do País ainda desconhece a importância das comunidades tradicionais. Como é possível explicar para essas pessoas a relação das comunidades com a cultura e o meio ambiente do Brasil e do mundo?
GEOVÁ ALVES – A relação da comunidade tradicional seja ela quilombola, indígena, ribeirinha ou de outro tipo com a natureza gera impacto em todos os lugares do mundo. Manter a floresta em pé com práticas tradicionais ou tradicionais aliadas à inovação tecnológica gera um movimento econômico social e ambiental que nunca foi visto antes na história da humanidade. Em 2017, nós embarcamos oito mil latas de açaí. Na época, isso gerou um volume de recursos na cooperativa de R$104 mil e não significa nem 0,5% da nossa produção total – a gente tinha capacidade de produzir 300 mil tranquilamente, talvez até mais, incluindo a produção do Beira Amazonas [território vizinho ao Bailique e que desde 2019 faz parte da Amazonbai].
O Bailique é um arquipélago muito pequeno, que quase nem aparece no mapa, mas que consegue gerar um impacto muito grande com o desenvolvimento de protocolo comunitário. Imagine isso sendo fomentado e sendo replicado de forma adequada com apoio do estado para vários territórios da Amazônia e do Brasil. Qual o impacto que não vai gerar na questão social e econômica do País? A gente consegue desenvolver o Bailique e o Beira Amazonas patrocinado por atores externos com nenhum tipo de ajuda do Estado, só que se o Estado entrasse nessa questão com as comunidades tradicionais, reconhecendo a importância das comunidades tradicionais, o resultado seria muito significante para o Brasil. A curto prazo ou a curtíssimo prazo a relação com o próprio meio ambiente seria diferente e o resultado disso é um país muito mais desenvolvido.
Fonte: Instituto Escolhas



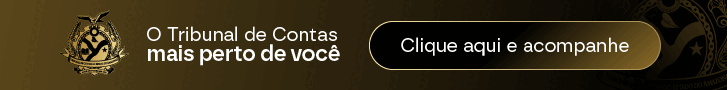
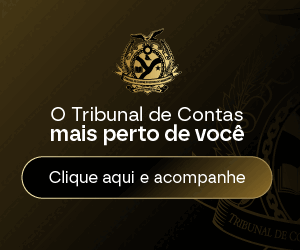















Comentários