“Precisamos de universidades indígenas, não para os indígenas estudarem a nossa biologia, mas para nós estudarmos a cosmovisão científica da biologia indígena”. Essa afirmação do cineasta Luiz Bolognesi resume com exatidão onde o seu novo filme, A Última Floresta (2021), quer chegar. Com uma fotografia exuberante, o filme retrata a vida e o dia a dia dos Yanomami e mergulha com profundidade nos mitos de criação, o sonho como a extensão da realidade e as difíceis relações que o contato com o homem branco impõe. Isso só foi possível graças à participação decisiva de Davi Kopenawa, xamã do povo Yanomami e que foi convidado por Luiz para criar o roteiro. “Eu chamei o Davi Kopenawa não apenas para ser o protagonista desse filme, mas para ser o roteirista também. Então o documentário tem um ponto de vista muito indígena, um olhar muito mágico para a realidade”, afirma. A Última Floresta é um filme sobre outros modos de vida possíveis, diferentes (e por vezes antagonistas) ao que a colonização europeia impôs ao Brasil e seus habitantes originários que aqui estavam no século XVI.
Em sua filmografia, Bolognesi busca colocar as questões indígenas como protagonistas. Muito disso é fruto da sua formação como antropólogo e de uma vivência íntima com os indígenas Pataxós, no sul da Bahia. Em seu filme anterior, Ex-Pajé (2018), acompanhou a história de um Pajé da etnia paiter suruí que, após a entrada de uma igreja evangélica em sua comunidade, abandona suas práticas de pajelança por ser considerada “coisa do diabo” pelo pastor. “O que a gente filmou no Ex-pajé não está acontecendo só entre os paiter suruí, é geral, está acontecendo no Brasil inteiro dentro de um movimento de intolerância religiosa”, afirma Luiz, que também dirigiu a animação Uma História de Amor e Fúria (2013).
A Última Floresta é um filme atual e urgente. Embora não se debruce especificamente no garimpo ilegal e na invasão das terras indígenas que já ocorrem há décadas no território Yanomami, os últimos dois anos e os recente episódios de ataques diretos dos garimpeiros contra os indígenas (tanto Yanomamis quanto Mundurukus) dão uma dimensão da ameaça contínua que sofrem esses povos. Conforme o próprio Luiz afirma em entrevista ao ((o))eco: “riqueza para os Yanomami é a fertilidade do rio, para nós a riqueza é meio quilo de ouro e um rio inteiro destruído por metal pesado. Uma floresta inteira derrubada então é um conceito de riqueza mórbido, que leva à morte, por isso a gente está enfrentando como consequência essa pandemia que está nos mergulhando na morte”.
Único filme brasileiro exibido na mostra Panorama do Festival de Berlim, A Última Floresta também foi selecionado para os festivais É Tudo Verdade, Hot Docs e Visions du Réel. No Brasil, o filme tem sessões marcadas para os próximos dias no Festival Pachamama, Imagem dos Povos e no especial Semana do Meio Ambiente da Mostra Ecofalante.
((o))eco: Luiz, gostaria que começasse contando um pouco da sua história como cinegrafista, como diretor, e como é que as pautas ambientais e indígenas entraram na sua vida.
Luiz Bolognesi: Na verdade eu não estudei cinema, eu estudei jornalismo na PUC e ciências sociais na USP, sendo que na USP eu começo minha relação com a questão indígena porque eu estudei, forcei todas as minhas optativas e puxei pra antropologia e aí começa realmente minha relação profunda com a questão indígena, onde eu estudava principalmente mitologia. Mais do que etnografia, eu tinha um interesse muito grande por estudo dos mitos. Antes mesmo de eu começar a trabalhar com cinema, eu tive uma experiência muito importante com as questões indígenas que aí não foi intelectual, foi afetiva: eu fui professor de uma turma de alunos pataxós no sul da Bahia, então nesse período de 1 ano e meio eu convivi muito forte com uma comunidade indígena que eram os Pataxós. Se eu já tinha um encantamento intelectual, nessa experiência mais concreta surgiu também um encantamento e uma admiração mais afetiva, de ver a maneira deles lidarem com os conflitos com o dia a dia com o tempo, a supremacia do coletivo no lugar do individual, uma série de coisas que me faz ser tão interessado em conhecer a cultura dos povos originários que estavam aqui antes dos europeus chegarem.
E aí quando eu comecei a trabalhar com audiovisual e cinema, primeiro como roteirista, essa ferramenta da antropologia, o estruturalismo de Lévi-Strauss e a mitologia foram ferramentas muito importantes pros meus roteiros, com a maneira de olhar pro outro que a antropologia oferece, que não projeta seus valores pessoais. Isso é um marco nos meus roteiros. Conforme meu trabalho foi avançando, eu fiz alguns filmes que eu fui só roteirista como: Bicho de Sete Cabeças (2001), Como Nossos Pais (2017), Bingo: O Rei das Manhãs (2017) e Elis (2015).

No meu trabalho na direção essa característica de aproximar dos temas indígenas veio com mais força. Então eu fiz minha primeira animação em que eu dirigi: Uma História de Amor e Fúria, que na verdade é uma leitura da história do Brasil do ponto de vista de um guerreiro tupinambá do século 16.
Em seguida eu fiz o filme Ex-pajé, com os paiter suruí, que relata um processo que tem acontecido há 500 anos, que é a entrada de cristianismo nas aldeias, uma entrada muito agressiva, muito violenta e que recentemente, com a igreja evangélica mais fundamentalista, esse processo voltou a se acirrar. O filme retrata a entrada de uma igreja evangélica e a demonização do xamã, do pajé, que passa a ser acusado pelo pastor que os rituais sagrados que ele faz, os cânticos, as flautas mágicas, os espíritos relacionados a floresta, são coisas do demônio e desqualifica o pajé. O que a gente filmou no Ex-pajé não está acontecendo só entre os paiter suruí, é geral, está acontecendo no Brasil inteiro dentro de um movimento de intolerância religiosa que o fundamentalismo evangélico vem trazendo nas comunidades. Mas está tendo bastante resistência e é pra falar da resistência que eu fiz meu último filme A última floresta.
Como eu tinha documentado o processo violento de aculturação e etnocídio no Ex-pajé, eu achei que era muito importante mostrar o contrário, mostrar as comunidades que optaram pela luta de resistência e que estão nesse enfrentamento. Eu escolhi os Yanomami e o líder da resistência que é o Davi Kopenawa Yanomami, que escreveu um livro A Queda do Céu, em que ele relata muito esses processos. Tentaram evangelizar, ele chegou a estudar a Bíblia e depois ele teve consciência da violência que esse processo traz e se colocou do lado dos xamãs. Ele é um grande xamã numa luta de resistência não só contra a entrada da igreja evangélica, mas também do modo de produção e vida capitalista, o excesso de mercadorias e eu resolvi fazer um filme que retratasse essa luta. Um aspecto interessante é que eu chamei o Davi Kopenawa não apenas para ser o protagonista desse filme, mas para ser o roteirista também. Então o documentário tem um ponto de vista muito indígena, um olhar muito mágico para a realidade, mitologia e sonhos que fazem parte do dia a dia.

Hoje os yanomami vivem numa área muito grande, o território Yanomami é a maior reserva indígena do planeta, um território bastante considerável, é uma das áreas do Brasil com seus biomas bastante preservados. Se vocês forem estudar hoje os territórios indígenas, que somam 10% do território brasileiro, a concentração dos biomas conservados está nos territórios indígenas não é à toa. E nos últimos anos ele vem sofrendo – coincide com a entrada do governo Bolsonaro –, uma invasão assombrosa de garimpeiros no seu território, com destruição muito rápida e extremamente violenta dos rios, dos córregos e dos igarapés. O filme não é sobre isso, o filme é sobre o modo de vida dos yanomami, sobre o dia a dia deles, a beleza e potência do universo yanomami, mas também a gente aborda essa questão muito grave. Já era grave quando filmei em 2019 e esse ano está mais grave ainda. Agora os garimpeiros, tanto no território Yanomami quanto no território Munduruku vem inclusive fazendo agressões, causando incêndios e atacando aldeias, matando lideranças indígenas, então a situação é muito delicada, a destruição é muito grande porque vai além do impacto da destruição da floresta da mata. Então é um processo extremamente violento e que tem, na medida em que ele destrói o coração da floresta, a perspectiva de no curto e médio prazo avançar bastante a destruição dessas áreas e a gente sabe que isso está causando, afetando violentamente o processo hídrico do país, da América do Sul como um todo e causando interferências que causam diminuição das chuvas no Centro-Oeste, no Sudeste, a gente está com uma crise hídrica nas usinas hidrelétricas e essa devastação nos últimos rincões que a floresta está preservada é muito grave para todos nós brasileiros.
O filme A Última Floresta, e creio que o Ex-pajé também, traz uma perspectiva histórica. No caso dos Yanomami, essa pressão dos garimpos vem desde a década de 1980 e teve o episódio terrível do massacre de Haximu. Colocando o Davi Kopenawa como roteirista e protagonista do filme, o que esse filme pode ensinar aos não-indígenas sobre a herança e perspectiva de futuros que os Yanomami têm?
Eu acho que a voz dos povos nativos vem encontrando mais espaço, mais escuta nos últimos anos. A gente está começando a ouvir os povos. Culturalmente e historicamente nós sempre fomos formatados e ensinados a desqualificar os saberes e conhecimentos dos povos da América que estão aqui há 4 mil anos, civilizações extremamente ricas, potentes e sábias, que tinham sobretudo o conhecimento profundo do conceito tão importante hoje em dia de sustentabilidade. Hoje a Etnobiologia e a antropologia nos seus estudos mais recentes têm mostrado que o que é o território brasileiro hoje era muito populoso antes dos europeus chegarem. Os números estão mudando, hoje já se fala que existiam aproximadamente 20 milhões de indígenas vivendo no que seria o território brasileiro. Só na Amazônia, estudos de arqueólogos falam de 8 milhões de pessoas morando ali no século 15 ou 16. O curioso é que não eram tão pouco populosos, eram bastante populosos. O que a gente sabe é que eles tinham uma fartura de carboidratos e proteínas pelo regime de plantação e plantio das roças com batatas, inhames, mandioca e milho. O pão da América é a mandioca e uma fartura de proteínas que vinham dos processos de caça e pesca. É muito comum nos povos indígenas que eu visitei, as roças são bastante ricas e além da mandioca eles tem várias dessas raízes, vários tipos de batata, inhame, é uma fartura muito grande.

Foto: Pedro J Márquez 
Foto: Pedro J Márquez
Nos tratos das narrativas mitológicas deles, há uma série de intervenções mitológicas que na verdade são saberes científicos, é isso que a gente tá começando a entender agora. O que nos parece narrativas folclóricas, mitológicas, na verdade está embutida uma ciência muito poderosa, por exemplo: nos paiter suruí, quando o pajé proíbe os homens que têm filhos pequenos de caçarem animais lentos porque isso traria doença pros filhos pequenos – e é uma intervisão mitológica deles – na prática quase todos os caçadores de idade adulta tem filho pequeno. Eles deixam de ter filhos pequenos quando já são bem mais adultos, com mais de 45 anos e muitas vezes já nem são mais caçadores. Isso faz com que a aldeia tenha um cinturão de animal lento que sobrevivem e que são a base da cadeia alimentar, então quando a gente examina isso com as lentes da ciência europeia, que é uma ciência diferente, a gente conclui que eles têm dispositivos ecológicos e ambientais voltados para a sustentabilidade numa ciência mítica, numa ciência que as intervenções estão ligados à mitos, fábulas e lendas, mas elas produzem uma realidade altamente sustentável que permite/permitia que cerca de 20 milhões de pessoas tenham vivido na América e mais de mil nações diferentes no território brasileiro durante quase 4 mil anos sem a destruição dos seus biomas.
Nós, a civilização europeia caucasiana, chegamos aqui com essa racionalidade científica há pouco mais de 500 anos, já destruímos ⅔ dos biomas e estamos condenando as futuras gerações a uma crise alimentar e hídrica sem precedentes. Sem falar que somos a civilização da pandemia no momento, estamos nos colocando numa sinuca de bico pelo modo que a gente produz, então eu sinto que chegou a hora de a gente ouvir com humildade e conhecer o saber das populações e civilizações que estão aí. Hoje ainda há cerca de 300 civilizações dessas mil que havia no Brasil. Estão aí falando as próprias línguas e eles detêm esse conhecimento científico sobre sustentabilidade, sobre cura, sobre remédio, sobre medicina e que tá embutido no conhecimento mitológico deles, esses conhecimentos não se separam. Um xamã como o Davi Kopenawa ao mesmo tempo que ele é um sacerdote religioso ele é um grande doutor da Sorbonne. Então quando eu vejo que o livro do Ailton Krenak, um filosofo indígena, foi o livro mais vendido na FLIP [Festa Literária Internacional de Paraty]do ano passado, isso mostra pra mim que a gente está começando a entender que para o nosso futuro é urgente e será muito importante aprender com as civilizações que estavam antes na América: sobre sustentabilidade, sobre como preservar os rios, como manter os biomas e a importância disso para o futuro econômico.
O meu cinema milita exatamente nesse lugar, como eu tenho muito interesse, muita curiosidade em aprender com esses povos, eu coloco o meu cinema a serviço desse aprendizado, dessa escuta. Veio daí essa ideia, sendo o Davi um grande xamã que também escreve livro – porque ele escreveu junto com o antropólogo Bruce Albert um livro maravilhoso chamado A Queda do Céu– eu entendi que ele deveria não ser apenas protagonista do filme, mas ele podia ser autor do filme junto comigo.
Pegando emprestado da antropologia essa ideia de “desencantamento do mundo” e que a ciência europeia promove esse desencantamento do mundo, talvez esse seja o fio condutor do filme Ex-pajé. Mas o A Última Floresta é o oposto, é o mergulho no mundo encantado, na cosmovisão Yanomami. Mas o filme termina em Harvard, talvez a “meca” (sic) do desencantamento do mundo. Queria que você comentasse os choques e as possibilidades de aprendizado para a ciência, para a economia e toda estrutura de sociedade europeia capitalista que a gente vive…
A gente convivendo com eles e estudando as civilizações pré-cabralianas, os povos originários daqui, a gente vê que para eles esse encantamento com o mundo, ou seja, o fantástico e o mágico, fazem parte do dia a dia. Enquanto para nós os mitos viraram folclore e são guardados em livros numa estante, para eles é matéria do dia a dia: explica as formigas terem destruído a roça ou através dos mitos eles conseguem enfrentar ou encarar a doença de uma criança e tomar atitudes em como produzir essa cura. Os espíritos da floresta estão presentes no dia a dia deles da mesma maneira que para eles o sonho teria algo da realidade. Para gente o sonho é a narrativa de algo que não aconteceu, para os povos indígenas e para o povo Yanomami o sonho é algo real que se passa de noite, eles acreditam que aquilo que eles estão vendo tem o mesmo peso da realidade, ao ponto de eu estar andando com um caçador yanomami de manhã, ele se levantou e saiu às 5 da manhã e falou que estava cansado ‘mas como se você acabou de sair da rede?’ ‘não, mas eu passei a noite fugindo de uma onça que me perseguiu a noite inteira’ e ele se declarava exausto porque para ele aquilo tinha acontecido.
A ciência do concreto como Lévi-Strauss fala, um saber que produz muita realidade, produz sobretudo uma economia ecológica, uma economia em que por conta desse enraizamento mitológico, essa ciência e esse saber indígena faz com que eles se vejam parte da natureza, enquanto a ciência que surge principalmente pelo século XV e XVI na Europa, a gente se afasta da natureza para praticar uma ciência em que há uma soberania no logos em detrimento do mitos. Esse afastamento produz a destruição dos biomas, porque o homem se confundiu, perdeu sua noção de participação, através da sua perda do encantamento, de fazer parte de algo e ele achou que a missão dele era chegar ao ponto de quebrar o átomo e fazer uma bomba atômica. E esse processo hoje está se mostrando bastante ilusório, na hora em que a gente é colocado em xeque-mate por um ser unicelular que colocou toda a humanidade – que vem e que deriva desse modo lógico de agir e se afastar da natureza – contra as cordas, vivendo uma crise sem precedentes, sem saber como lidar com essa questão.

Foto: Pedro J Márquez 
Foto: Pedro J Márquez
Riqueza para Davi e para os Yanomami é a fertilidade do rio, para nós a riqueza é meio quilo de ouro e um rio inteiro destruído por metal pesado. Uma floresta inteira derrubada então é um conceito de riqueza mórbido, que leva à morte, por isso a gente está enfrentando como consequência essa pandemia que está nos mergulhando na morte. A gente está criando condições para que a nossa espécie desapareça do planeta através desse afastamento, então temos que nos reconectar, esse pertencimento a natureza é a principal ação ecológica que nós podemos fazer hoje. Nós precisamos de universidades indígenas, não para os indígenas estudarem a nossa biologia, mas para nós estudarmos a cosmovisão científica da biologia indígena, da economia indígena e isso é urgente.
Eu acho que o meu cinema milita nesse sentido, mas os caminhos de escuta estão sendo muito abertos e é aí que a gente coloca Harvard no filme. Hoje o Davi é convidado para fazer palestra em Londres, em Washington, Harvard, da mesma maneira o Ailton Krenak. Cientistas de ponta estão reconhecendo o saber desses povos que estão aqui há milhares de anos e são saberes de ponta, não um saber perdido ou primitivo que na verdade é um preconceito construído pela nossa civilização para legitimar o massacre, o roubo das terras e o estupro das mulheres.
Fonte: O Eco



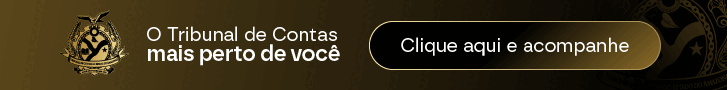
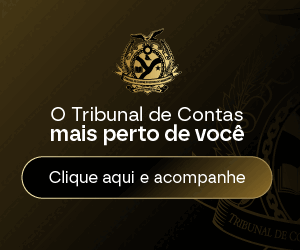















Comentários