Botânico idealizador do programa Biota diz que defesa da preservação da riqueza biológica é indissociável do combate às mudanças climáticas
Há mais de duas décadas, o nome de Carlos Alfredo Joly é diretamente associado ao Programa Biota FAPESP, que, desde março de 1999, se dedica a mapear as espécies animais e vegetais do estado de São Paulo e do Brasil. Idealizador e um dos principais líderes da iniciativa, que engloba cerca de 300 projetos, entre os concluídos e em andamento, e reúne 1.200 pesquisadores, o botânico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) se alegra ao comentar as contribuições do Biota para a formulação de políticas ambientais públicas e a formação de recursos humanos (ver Pesquisa FAPESP nº 298). Sua voz, no entanto, assume um tom mais grave, quase de revolta, ao constatar que a biodiversidade paulista, apesar de todos os esforços, encontra-se em uma situação ainda mais crítica do que 20 anos atrás. “O estado está mais degradado”, diz.

Uma estratégia para alavancar a conservação das espécies é associar a preservação da biodiversidade à luta contra as mudanças climáticas, duas questões contemporâneas que, a seu ver, devem caminhar juntas, de forma indissociável. Joly faz parte do Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), uma iniciativa internacional sobre biodiversidade que funciona nos moldes do IPCC, o painel sobre o clima. Também é um dos coordenadores da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES).
Na entrevista a seguir, Joly fala de biodiversidade, do Biota e relembra a infância e a juventude passada em um pedaço quase rural da antiga zona oeste da cidade de São Paulo, a região no entorno do rio Pinheiros antes da construção da homônima marginal. Também se recorda das constantes viagens de carro ao litoral norte paulista e a partes do Brasil ao lado do pai, o botânico Aylthon Brandão Joly (1924-1975), que foi professor da Universidade de São Paulo (USP). O botânico tem dois netos e duas filhas do primeiro casamento, uma geógrafa e uma jornalista. Esta última deve inaugurar em breve uma loja de plantas. “O vínculo da família com a botânica e o meio ambiente continuará por pelo menos mais uma geração”, comenta.
Como avalia a situação da biodiversidade no estado de São Paulo e no país em relação à época em que o Biota foi criado?
Ano passado, em razão das comemorações de 20 anos do Biota, fizemos várias reuniões sobre diferentes temas. Em termos de biodiversidade, concluímos que o estado de São Paulo está pior do que 20 anos atrás. Está mais degradado, mas também concluímos que estaria muito pior se o Biota não existisse. Continuamos a ter grandes problemas de fragmentação excessiva de áreas de vegetação nativa. Poucos fragmentos de Cerrado, por exemplo, têm tamanho suficiente para manter populações de mamíferos, como o lobo-guará ou o tamanduá. O estado está perdendo a capacidade de conservar esses animais. Ainda temos bons remanescentes de Mata Atlântica, mas muitas áreas têm uma deficiência de fauna. A caça nesses locais nunca foi efetivamente controlada. Vários estudos mostram que a ausência de pequenos roedores, que são importantíssimos na dispersão de sementes, afeta a dinâmica de regeneração da própria floresta. Conseguimos alguns avanços em diferentes momentos, mas, atualmente, não há essa preocupação por parte do governo estadual. Hoje temos consciência de que as agendas da biodiversidade e das mudanças climáticas são indissociáveis.
Poderia dar um exemplo?
A restauração de matas poderia compensar parte das emissões de CO2 [dióxido de carbono], o principal gás do efeito estufa, que provoca o aquecimento global. O estado poderia promover essa política de maneira intensa. A implementação de fato do código florestal obrigaria as propriedades rurais a manter 20% de reserva legal e de áreas de preservação permanente. Mas não se pode permitir o uso abusivo do mecanismo de compensação de áreas desmatadas. Se a área de reserva legal desmatada fica em São Paulo no bioma Mata Atlântica, não é correto fazer sua compensação ambiental com a restauração de uma área no Piauí, mesmo que fique no mesmo bioma. Pode ser bom para o Piauí, mas não para São Paulo. Continuamos com pouca vegetação. É inacreditável, mas não entra na cabeça de muitos administradores públicos que as secas cíclicas estão associadas à destruição da cobertura vegetal. Para eles, a solução é sempre pensada como uma obra de engenharia, construir mais um reservatório para não ter falta de água em uma cidade. Mas bastaria usar o código florestal e restaurar a vegetação nativa para retomarmos o ciclo hidrológico, com uma melhor distribuição de chuvas no estado inteiro. Precisamos desses serviços ecossistêmicos aqui. Alguns proprietários de terra teriam de ceder áreas que hoje são usadas na agricultura para restauração. Essa mudança mexeria com alguns interesses econômicos, mas ela é uma necessidade maior, de toda a população do estado.
Os estudos do Biota não tiveram grande impacto nas políticas ambientais públicas dos últimos anos?
Como disse, a situação seria provavelmente pior sem o Biota, que teve e tem um impacto grande. Mas não conseguimos reverter a situação geral. Essa constatação é bastante clara para nós. Por outro lado, formamos um exército de pesquisadores, de jovens doutores com essa ideia de colaboração, de trabalhar em equipes grandes, multidisciplinares, de diferentes instituições e com distintos interesses. Esses profissionais vão fazer toda a diferença no futuro. Nesse aspecto, o Biota é um grande sucesso.
O conhecimento sobre biodiversidade não mudou de patamar nos últimos 20 anos? Não houve um avanço também nesse setor?
Hoje sabemos onde está e o que temos de biodiversidade, mas o principal avanço no conhecimento foi sobre o funcionamento dos ecossistemas. Agora temos a possibilidade de fazer modelagens e prever quais serão os impactos das mudanças climáticas na Mata Atlântica ou do uso indiscriminado de pesticidas sobre os polinizadores, por exemplo.

O leigo e os produtores rurais são receptivos a esse tipo de estudo?
Se percebem que os dados estão embasados na realidade, eles aceitam. Isso não é divagação ou romantismo. As paisagens são multifuncionais. Por exemplo, manter ao menos parte da biodiversidade nativa aumenta os níveis de polinização e é bom para a produtividade agrícola. Uma área de café perto de uma mata produz mais frutos do que uma fazenda isolada, cercada apenas por pés de café. No estado de São Paulo, o impacto econômico não é tão grande porque somos fortemente dependentes do cultivo de cana. Mas nas regiões de produção de soja isso é mais evidente. Nas áreas próximas a matas conservadas, as sementes da soja são mais pesadas e é possível converter menos áreas e produzir mais. Temos todo o estado mapeado em termos de disponibilidade de áreas para manter a reserva legal. Sabemos que não há áreas suficientes de Cerrado em São Paulo para fazer compensação ambiental. Nesse caso, recomendamos fazer essa compensação em estados limítrofes, como Minas Gerais, que abrigam as nascentes de bacias hidrográficas importantes para nosso abastecimento de água. Essa política não tem custo muito elevado. Basta restaurar e utilizar preferencialmente as áreas periféricas, que geralmente são de baixa produtividade agrícola.
A coincidência de agendas da biodiversidade e das mudanças climáticas não é benéfica para essas duas áreas?
Sim, geralmente sim. Mas há uma posição histórica equivocada do Itamaraty, não apenas no atual governo federal, de que misturar essas duas agendas de forma oficial em acordos internacionais é ruim para o Brasil a médio e longo prazo. Eles acreditam que o Brasil pode enfrentar problemas comerciais se aceitar a ideia de que as mudanças climáticas têm um grande impacto sobre a biodiversidade. Há muita convergência, mas nem tudo é bom tanto para a biodiversidade como para as mudanças climáticas. Vou dar um exemplo. Em princípio, plantar florestas é positivo para a biodiversidade e para combater as mudanças climáticas. A floresta permanente retira CO2 da atmosfera. Mas não posso plantar árvores nos Pampas, um bioma predominantemente herbáceo. Isso seria muito ruim para a biodiversidade desse ecossistema.Ali não é para ter árvores. O correto é restaurar florestas onde havia florestas. Há várias decisões desse tipo que podem favorecer a mitigação das mudanças climáticas, mas serem prejudiciais à biodiversidade. Por isso, a análise precisa ser feita de forma conjunta.
Você concorda com a impressão de que a repercussão do trabalho do IPBES parece relativamente modesta quando comparada à do IPCC?
Houve outras iniciativas internacionais sobre biodiversidade antes do IPBES, mas que acabaram sendo dominadas pela burocracia. O IPBES foi criado por mais de 100 nações em 2012, ou seja, somos mais novos e menos conhecidos que o IPCC, que foi fundado em 1988. Nosso primeiro relatório sobre biodiversidade foi divulgado em maio de 2019. Comparado ao IPCC, estamos mais atrasados. Mas gostaria de destacar que a comunidade científica brasileira tem tido uma participação muito ativa no IPBES. Somos o único país com representantes em todas as forças-tarefas e relatórios de diagnóstico do IPBES. No mais recente diagnóstico sobre a biodiversidade nas Américas, tínhamos cerca de 25 pesquisadores brasileiros envolvidos no trabalho, quase um quarto do total. O primeiro relatório global teve como um dos coordenadores um brasileiro, Eduardo S. Brondizio, atualmente na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. A Cristiana S. Seixas, da Unicamp, que faz parte da comunidade de pesquisadores do Biota, foi uma das coordenadoras do relatório sobre as Américas. O mesmo ocorreu com o relatório sobre polinização, que teve a Vera Imperatriz Fonseca, do Instituto de Biociências da USP, outra pesquisadora ligada ao Biota, como uma das coordenadoras. Temos tido uma participação muito grande. Por isso, reunimos os pesquisadores brasileiros que estavam tendo essa experiência de trabalhar nesses diagnósticos internacionais e criamos a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, BPBES.
Não entra na cabeça de muitos administradores públicos que as secas cíclicas estão associadas à destruição da vegetação
O que a BPBES tem feito?
Em 2019, realizamos o primeiro diagnóstico nacional sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Também fizemos relatórios temáticos, focados em restauração de florestas, em polinização e na água. Agora estamos desenvolvendo um relatório de agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, outro sobre a região costeira e marinha, a interface entre terra e mar, e um terceiro sobre espécies invasoras. Esses três novos relatórios estão em andamento e devem sair em 2023, o mais tardar em 2024. O objetivo desses relatórios, e dos respectivos Sumários para Tomadores de Decisão, é o aperfeiçoamento de políticas públicas de conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, com base no melhor conhecimento disponível, de caráter científico e do saber de comunidades indígenas e tradicionais.
É comum hoje se falar que o futuro de algumas regiões do país, sobretudo da Amazônia, depende do desenvolvimento da bioeconomia, a riqueza que deriva da biodiversidade. Qual sua visão sobre o tema?
Um dos problemas é que há vários conceitos e definições de bioeconomia. Há muito ruído nessa área. Sabemos que a floresta amazônica em pé vale muito mais do que derrubada e transformada. Mas a questão complicada é saber como transformar esse valor potencial em melhoria econômica e da condição de vida das populações amazônicas. Essas pessoas têm uma cultura específica e têm o direito a um atendimento de saúde e a um sistema de educação que efetivamente funcionem, além de poder ter acesso a todos os bens de consumo que desejarem. Quando nós, mais da área de biodiversidade, pensamos na bioeconomia, defendemos que o pagamento por serviços ambientais é uma forma de viabilizar isso. Hoje há um grande experimento no município de Extrema, na divisa com São Paulo, em que os proprietários de terras são pagos para proteger os recursos hídricos. Existe outro projeto semelhante em desenvolvimento no Vale do Paraíba, com apoio da FAPESP. Essa é uma forma de valorizar a floresta. O que não pode ocorrer é simplesmente alguém, geralmente de fora, comprar por valor irrisório os produtos não madeireiros da floresta e achar que isso é bioeconomia.
Você destacaria alguma boa iniciativa da chamada bioeconomia?
A Amazônia tem um exemplo fantástico, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas. Esse projeto começou com o desenvolvimento do manejo de pescado, principalmente do pirarucu, mas hoje é muito mais do que isso. Para limitar a exploração do pirarucu, é preciso complementar a renda da população de outras formas, com produtos diversificados, como o artesanato. Então surge uma questão: posso ampliar essa abordagem para outras regiões da Amazônia? Aí reside nosso principal problema. Essas experiências, que funcionaram no âmbito local, não são reproduzíveis em escalas maiores. Estamos quebrando a cabeça para tentar encontrar caminhos possíveis para que essa abordagem de fato funcione em outras escalas. A empresa Natura tem um bom sistema de utilização de frutos, raízes, folhas para a indústria cosmética, cuja coleta é administrada por comunidades locais. É algo que levou muito tempo para ser alcançado, pois foi necessário planejar as atividades para que as comunidades tivessem recursos o ano todo. A castanha, por exemplo, frutifica em um determinado período. É preciso pensar como fica a renda da população que vive da exploração daquela castanha no resto do ano. Por isso, é importante montar um arranjo que trabalhe com diferentes produtos e possa garantir renda por 12 meses. Fico preocupado quando ouço dizer que a bioeconomia vai solucionar os problemas da Amazônia. Não podemos repetir o que ocorre com o açaí, que já está sendo explorado em excesso em algumas partes da Amazônia. Ele é um produto excelente, que gera renda para as populações locais. Mas precisamos de mais estudos sobre sua exploração e talvez melhorar a cadeia produtiva, reduzir a presença de intermediários e criar cooperativas e associações locais.
Saber como funcionam os nossos ecossistemas foi o principal avanço no conhecimento gerado pelo Biota
Como a pandemia afetou os projetos do Biota e as pesquisas de biodiversidade?
Os projetos que dependem de atividade de campo, de coleta de espécies, tiveram suas atividades suspensas. As próprias unidades de conservação foram fechadas por determinação do governo estadual e estão reabrindo agora. Acho que vai ser possível começar a retomar parte dessas atividades de campo, mas obviamente há um prejuízo. Para quem trabalha com ciclos da natureza e emprega análises que dependem de visitas periódicas estão sendo feitas adaptações nos protocolos de pesquisa. A pandemia também atrapalhou o pessoal que trabalha com coleções e em laboratórios, pois o acesso a esses locais se tornou muito restrito. Ainda não temos uma avaliação completa do impacto, mas a coordenação do Biota está tentando fazer uma avaliação da situação.
O Biota tem projetos que estudam a questão da biodiversidade e a emergência de novas doenças oriundas de espécies selvagens, como parece ser o caso da Covid-19?
A pandemia sinaliza novas fronteiras, que o programa explorou muito pouco. Tentamos algumas vezes trabalhar na interface entre saúde e biodiversidade, mas essa abordagem nunca de fato funcionou. Temos pesquisadores que estudam malária, febre amarela e vetores de doenças e é preciso aprimorar essas parcerias. Mas, por exemplo, não temos nenhum projeto no Biota que esteja trabalhando com levantamento de vírus de uma maneira geral, que cause ou não impacto na saúde humana. Em nossas discussões recentes, falamos dessa questão com a coordenadora de um projeto internacional de estudo e mapeamento da distribuição de vírus. Gostaríamos de ver pesquisadores do Biota engajados nesse tipo de pesquisa. Precisamos estudar a potencial conexão dos vírus e outros patógenos com áreas verdes urbanas para prever o eventual surgimento de problemas de saúde.
Gostaria de voltar no tempo e falar um pouco do início de sua trajetória. Como surgiu o interesse pela biologia?
Certamente, a influência de meu pai foi muito grande, não só por sua carreira, mas também porque viajávamos muito de carro e ele sempre me explicava a importância e as diferenças de uma mata, de um mangue ou de uma vegetação de duna. Ele não era só um biólogo quando lecionava na universidade, mas também quando nos ensinava sobre a natureza. Tive a oportunidade de viajar de ônibus com ele para o Nordeste, aprendendo ao longo de toda viagem. Na época meu pai tinha muito medo de viajar de avião. Por isso, ele ia regularmente aos congressos nacionais de botânica, realizados cada vez em uma cidade diferente, de ônibus ou de carro. Quando fiz 15 anos, ganhei de presente o direito de acompanhá-lo ao congresso que se realizou em João Pessoa. Fomos e voltamos de ônibus, ao lado dos alunos dele. Também fui muito influenciado pelo professor de biologia Albrecht Tabor, do Colégio Visconde de Porto Seguro [escola privada da cidade de São Paulo], onde fiz o meu colegial na época, hoje equivalente ao ensino médio. Ele era apaixonado por biologia, como meu pai. Dava aulas fantásticas e, nas férias, fazia viagens para lugares que, na época, eram totalmente exóticos, como Austrália e África do Sul. No retorno das férias, sempre fazia uma ou duas palestras para falar das viagens, das plantas e bichos que ele viu.
Como foi crescer perto da margem do rio Pinheiros antes de haver a marginal?
Morei no limite da cidade, praticamente na zona rural. A entrega de leite era feita por um leiteiro que vinha em uma carroça puxada a cavalo. A rua Hungria, onde morava, tinha basicamente duas quadras asfaltadas, o resto era de terra. Havia uma faixa de mato em frente, depois a linha do trem e o rio Pinheiros. Do outro lado do rio, dava para ver o muro do Jockey Club. Minha família acompanhou todo o desenvolvimento daquela região até a rua Hungria tornar-se a pista local da marginal Pinheiros. Desde cedo, tive muito interesse em colecionar animais. Tive coleções de aranhas e escorpiões, boa parte deles coletada perto de casa, e, mais tarde, de borboletas, a maioria do litoral norte de São Paulo. Desde pequeno, passava as férias em Ilhabela, onde meu avô tinha casa. Quando fiz 8 anos, meus pais construíram uma casa na praia do Lázaro, em Ubatuba. Além das férias, íamos a cada 15 dias para Ubatuba. Meus melhores amigos eram todos moradores lá da região. Saía com eles para andar em trilhas, mergulhar, fazer caça submarina, jogar futebol e coletar borboletas. Gostava de identificar ovos ou lagartas em estágios muito iniciais. Eu as levava para criar em casa e, assim, tinha borboletas recém-nascidas, com asas perfeitas, sem descamações, para colocar na minha coleção. Com meu pai, aprendi a coletar os bichos, sacrificá-los e prepará-los depois para fazer parte de uma coleção. Mais tarde, doei esse material para o Museu de Diversidade Biológica da Unicamp.

Quando você entrou na biologia da USP, teve aula com seu pai. Como foi esse período?
Fui da última turma que teve aula com meu pai. Estava no segundo ano da faculdade quando ele faleceu. Foi um período muito complicado. Meu pai descobriu que estava com câncer em abril de 1975 e faleceu em agosto, pouco antes de completar 51 anos. Nos dois primeiros anos do curso, fiz parte da diretoria do centro acadêmico e meu pai era o vice-diretor do Instituto de Biociências. De vez em quando havia conflitos inevitáveis entre quem estava tentando administrar uma unidade de ensino e pesquisa e o meu grupo, que agitava, interrompia as aulas, distribuía panfletos. Mas, no geral, foi uma convivência muito boa. Meu pai concordava com o nosso ideário, apesar de obviamente não apoiar muitas vezes nossa forma de ação. Depois que faleceu, passei a me concentrar mais nos estudos. Pensava em me formar rapidamente e arrumar um emprego. Minha forma de pensar e de ver o futuro mudou bastante. Consegui fazer aulas no noturno e botar em dia algumas disciplinas que tinha perdido. No final, completei a gradução em quatro anos, apesar dos acidentes de percurso no início do curso.
Por que deixou a USP e foi fazer mestrado na Unicamp?
Com o falecimento do meu pai, houve toda uma mudança no meu ambiente acadêmico. Algumas pessoas me decepcionaram muito. Eram aparentemente muito amigas de meu pai, mas, depois da morte dele, afastaram-se por completo. Uma exceção foi o professor Eurico Cabral de Oliveira Filho, que foi aluno do meu pai e permaneceu amigo da família. Nesse ambiente, achei melhor fazer um aperfeiçoamento na Unicamp, onde ainda não havia o curso de pós-graduação em botânica. Acompanhei o início da construção da Unicamp porque meu pai fora convidado para estruturar o Departamento de Botânica. O Instituto de Biologia da universidade se resumia a uma sala, onde hoje é o prédio da Diretoria Geral de Administração. Por internédio do meu pai, tinha um relacionamento com os professores que estavam na Unicamp. Em um dado momento, conversei com o professor Gil Martins Felippe, que era da área da fisiologia vegetal, sobre a possibilidade de fazer meu aperfeiçoamento com ele, que aceitou me orientar. Definimos um projeto e submetemos à FAPESP. No segundo semestre de 1976, o Instituto de Biologia resolveu criar o curso de pós-graduação em biologia vegetal. Como já tinha um projeto aprovado pela FAPESP, fiz algumas modificações na proposta e ela passou a ser meu projeto de mestrado. Em dois anos, terminei minha dissertação sobre germinação de espécies de Cerrado. Em agosto de 1978 fui contratado pelo Departamento de Botânica do IB/Unicamp. Defendi o mestrado em junho de 1979 e em setembro fui fazer doutorado na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Em outubro de 1982 retornei a meu departamento já como doutor.
O que foi estudar lá?
Mecanismos de adaptação de algumas árvores brasileiras aos períodos de cheia dos rios, quando há inundação e saturação hídrica do solo. Nas cheias, não há oxigênio no solo para as raízes respirarem. As espécies que ocupam esses ambientes têm adaptações específicas para sobreviverem nessas condições.
Mas como estudar árvores tropicais no clima frio da Escócia?
Não era fácil. Cultivava minhas mudas e fazia os experimentos na estufa tropical do Jardim Botânico de St. Andrews, possivelmente o único lugar com temperatura acima de 20 ºC no inverno escocês.
Por Marcos Pivetta
Fonte: Revista FAPESP



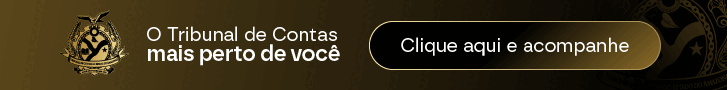
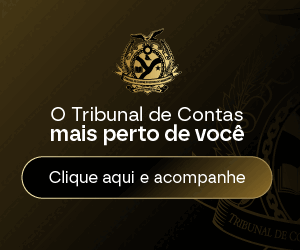















Comentários