O jornal americano publicou matéria pouco animadora sobre o temor dos cientistas de que a Amazônia chegue ao “ponto de não retorno”: momento em que a floresta perde capacidade de se autorregenerar e comece a virar uma savana
O New York Times, tradicional jornal americano, publicou na última quarta feira (4) reportagem assinada por Alex Cuadros em sua revista digital, onde coletou informações e opiniões de especialistas do bioma amazônico, e sobre sua atual condição ambiental e climática a fim de responder a pergunta: “Chegou a Amazônia ao seu ponto de não retorno?”
Para realizar a matéria e discutir o tema, o jornal ouviu cientistas de diferentes partes do mundo que estudam a Amazônia. Entre eles, o reputado cientista brasileiro Carlos Nobre deu fundamental contribuição para o assunto, como também as já conhecidas participações e idealizações de projetos de desenvolvimento sustentável e bioeconomia na região.
“Se o atual desflorestamento alcançar de 20% a 25% da área original da floresta, os rios voadores que seu ecossistema produz vão se enfraquecer de tal forma que a rainforest deixará de ser capaz de sobreviver na maior parte da Amazônia. Em vez disso, ela vai colapsar, tornando-se uma esquálida savana, possivelmente em década
disse Carlos Nobre na entrevista
A seguir, veja o vídeo de Carlos Nobre falando sobre a atualidade ambiental e climática da Amazônia, projetos para reverter o desmatamento, em evento da USP
Leia agora a reportagem do The New York Times traduzida livremente pelo portal Brasil Amazônia Agora
“Chegou a Amazônia ao seu ponto de não retorno?”
Por Alex Cuadros
_________________
Uma das primeiras vezes que Luciana Vanni Gatti tentou coletar o ar amazônico ficou tão tonta que nem conseguiu operar os controles. Uma química atmosférica, ela queria medir a concentração de carbono acima da floresta tropical. Para obter suas amostras, ela teve que treinar pilotos em empresas obscuras de táxi aéreo. O desconforto começou enquanto ela esperava na pista, segurando uma porta aberta contra o vento para evitar que a minúscula cabine virasse um forno sob o sol equatorial. Quando finalmente decolaram, subiram vertiginosamente e, toda vez que mergulhavam em uma nuvem, o avião parecia estar, nas palavras de Gatti, sambando — dançando o samba. Então a temperatura do ar caiu abaixo de zero e seu suor esfriou.
Não que tudo fosse ruim. À medida que o frenético porto de Manaus recuava, a copa se estendia abaixo como um tapete felpudo, verde imaculado exceto pelas flores rosas e amarelas dos ipês, e era um daqueles momentos – cada vez mais raros na experiência de Gatti – em que você podia fingir que a natureza não tinha limites finais, e a Amazônia parecia o que ainda era, a maior floresta tropical do mundo.
Para ler a matéria original, em inglês, clique aqui
A Amazônia tem sido chamada de “o pulmão da terra” por causa da quantidade de dióxido de carbono que absorve – segundo a maioria das estimativas, cerca de meio bilhão de toneladas por ano. O problema, cientificamente falando, é que essas estimativas sempre dependeram de uma série de extrapolações. Alguns pesquisadores usam satélites para detectar mudanças que indicam a presença de gases de efeito estufa. Mas o método é indireto e as nuvens podem contaminar os resultados. Outros começam com medições individuais de árvores em lotes espalhados pela região, o que permite calcular a chamada biomassa de cada tronco, que, por sua vez, permite calcular quanto carbono está sendo estocado pelo ecossistema como um todo. Mas é difícil saber quão representativas são as pequenas áreas de estudo, porque a Amazônia é quase tão grande quanto os Estados Unidos contíguos, com diferenças regionais de chuva, temperatura, flora e extensão da exploração madeireira e da agricultura. (Um estudo até alertou sobre o risco de “viés de seleção de florestas majestosas”.)
A solução de Gatti foi medir diretamente o carbono no ar. O que levou à parte menos agradável do voo. O piloto removeu os assentos traseiros do avião para compensar o peso de uma “mala” especial de prata doada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. No interior, uma espessa camada de espuma continha 17 frascos de vidro com válvulas que abriam e fechavam com o apertar de um botão. Cada um deveria capturar um litro e meio de ar de uma altitude diferente, começando a 14.500 pés e descendo até 1.000. Para garantir que a coleta sempre ocorresse acima do mesmo ponto no mapa, o piloto tinha que descer em espirais apertadas, inclinando-se com tanta força que o horizonte ficava quase vertical.
Em uma floresta tropical saudável, a concentração de carbono deve diminuir conforme você se aproxima do dossel por cima, porque as árvores estão extraindo o elemento da atmosfera e transformando-o em madeira por meio da fotossíntese. Em 2010, quando Gatti começou a fazer dois voos por mês em cada um dos quatro pontos diferentes da Amazônia brasileira, ela esperava confirmar isso. Mas suas amostras mostraram o contrário: em altitudes mais baixas, a proporção de carbono aumentou. Isso sugere que as emissões do corte e queima de árvores – o método preferido para limpar campos na Amazônia – na verdade excedem a capacidade da floresta de absorver carbono. A princípio, Gatti tinha certeza de que era uma anomalia causada por uma seca passageira. Mas a tendência não persistiu apenas nos anos mais úmidos; isso se intensificou.


Por um tempo, Gatti simplesmente se recusou a acreditar em seus próprios dados. Ela até ficou deprimida. Ela sempre sentiu uma profunda conexão com a natureza. Quando criança, em uma cidade distante chamada Cafelândia, ela subia em uma árvore em frente à sua casa, passando horas em uma formação de galhos que pareciam feitos sob medida para embalar seus braços, pernas e cabeça. Anos depois, por mais que sobrevoasse a Amazônia, ela nunca se acostumou com a visão de estradas recém-pavimentadas, novas estradas de terra sempre se ramificando, formando um padrão de espinha de peixe. Às vezes, ela passava por colunas de fumaça bege que subiam até a estratosfera.
De volta ao seu laboratório, que agora está instalado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Gatti passou dois anos refinando sua metodologia. Ela queria saber quanto carbono a floresta tropical estava perdendo – e ainda mais importante, quão representativos eram esses resultados. O objetivo de seu projeto era que, ao capturar o ar de altitudes tão elevadas, pudesse fornecer uma imagem empírica e abrangente do chamado balanço de carbono da Amazônia. Então ela desenvolveu sete maneiras diferentes de calcular o efeito dos fluxos de vento e a composição do ar sobre o Oceano Atlântico, aperfeiçoando gradualmente seu método para subtrair o ruído de fundo. Por fim, ela se sentiu confiante de que suas “regiões de influência” captavam o que estava acontecendo em 80% da Amazônia. As emissões líquidas foram em média de quase 300 milhões de toneladas de carbono por ano – aproximadamente as emissões de toda a nação da França.
Quando Gatti publicou suas descobertas na Nature em 2021, gerou manchetes em pânico em todo o mundo: os pulmões da Terra estão exalando gases de efeito estufa. Mas sua descoberta foi realmente muito mais alarmante do que isso. Como a queima de árvores libera uma alta proporção de monóxido de carbono, ela pode separar essas emissões do total. E no sudeste da Amazônia, as amostras de ar ainda mostravam emissões líquidas, sugerindo que o próprio ecossistema poderia estar liberando mais carbono do que absorveu, em parte graças à decomposição da matéria vegetal – ou nas palavras de Gatti, “efetivamente morrendo mais do que crescendo”. A primeira vez que falei com Gatti, ela reaproveitou uma letra do cantor brasileiro Jorge Ben Jor. Como isso poderia estar acontecendo, ela perguntou, em um “país tropical, abençoado por Deus/e lindo por natureza”?
A Amazônia é um labirinto de mil rios. Eles nascem a 21.000 pés, com derretimentos sazonais da calota de gelo de Sajama, na Bolívia, e nascem na rocha escura do penhasco de Apacheta, no Peru, como infiltração glacial jorrando branco de seus poros. Eles nascem a menos de 160 quilômetros do Oceano Pacífico; eles nascem no meio do continente sul-americano, nos planaltos, savanas e cordilheiras de arenito do Brasil. A maioria são apenas afluentes de afluentes, nascentes de rios muito maiores — o Caquetá, o Madre de Dios, o Iriri, o Tapajós —, cada um deles, por si só, já estaria entre os maiores rios do mundo. Onde esses afluentes desembocam, logo ao sul do Equador, eles formam a aorta do Amazonas, com mais de 16 quilômetros de largura em seu ponto mais largo. Da fonte mais distante do Amazonas até sua foz no Atlântico, a água flui por 4.000 milhas, quase tão longa quanto o Nilo. Medido pelo volume que libera no oceano – o equivalente a uma dúzia de Mississippis, um quinto de toda a água doce que chega aos mares do mundo – o Amazonas é o maior rio do mundo.
O consenso costumava ser que os ecossistemas são apenas um produto dos padrões climáticos predominantes. Mas na década de 1970, o pesquisador brasileiro Eneas Salati provou que a Amazônia, com seus cerca de 400 bilhões de árvores, também cria seu próprio clima. Em um dia normal, uma única árvore grande libera mais de 100 galões de água como vapor. Isso não apenas reduz a temperatura do ar por meio do resfriamento evaporativo; como Salati descobriu rastreando isótopos de oxigênio em amostras de água da chuva, também dá origem a “rios voadores” – nuvens de chuva que reciclam a própria umidade da floresta cinco ou seis vezes, gerando até 45% de sua precipitação total. Ao criar as condições para uma faixa continental de sempre-vivas, esse processo é crucial para o papel da Amazônia como um “sumidouro” global de carbono.

Muitos cientistas agora temem, no entanto, que esse ciclo virtuoso esteja se rompendo. Apenas no último meio século, 17% da Amazônia – uma área maior que o Texas – foi convertida em terras de cultivo ou pastagens para gado. Menos floresta significa menos chuva reciclada, menos vapor para resfriar o ar, menos copa para proteger contra a luz solar. Sob condições mais secas e quentes, até mesmo as árvores mais exuberantes da Amazônia perderão as folhas para economizar água, inibindo a fotossíntese – um ciclo de retroalimentação que só é exacerbado pelo aquecimento global. Segundo o cientista brasileiro do sistema terrestre Carlos Nobre, se o desmatamento atingir 20 a 25% da área original, os rios voadores enfraquecerão o suficiente para que uma floresta tropical simplesmente não consiga sobreviver na maior parte da Bacia Amazônica. Em vez disso, ele se transformará em uma savana raquítica, possivelmente em questão de décadas.
Muitas das evidências para essa teoria – incluindo os estudos de amostras de ar de Gatti – surgiram graças a uma iniciativa inovadora liderada pelo próprio Nobre. Quando Nobre começou a tentar prever o impacto do desmatamento em 1988, ele teve que fazê-lo na Universidade de Maryland, porque seu país de origem não tinha capacidade de computação para modelagem climática séria. O Brasil estava tão carente de recursos que os pesquisadores estrangeiros até dominaram o trabalho de campo na Amazônia. Mas Nobre liderou um programa que, nas palavras de um editorial da Nature, “revolucionou a compreensão da floresta amazônica e seu papel no sistema terrestre”. Criado em 1999 e conhecido como Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, ou L.B.A., uniu disciplinas que normalmente não colaboravam, reunindo químicos como Gatti com biólogos e meteorologistas. Enquanto o financiamento veio principalmente dos Estados Unidos e da Europa, Nobre insistiu que os sul-americanos desempenhassem papéis de liderança, dando origem a toda uma nova geração de cientistas brasileiros do clima.
Até recentemente, Nobre trabalhava com a suposição de que a Amazônia não se tornaria uma fonte líquida de carbono por pelo menos mais algumas décadas. Mas a pesquisa de Gatti não é o único sinal de que, como ele me disse pelo Skype, “estamos às vésperas desse ponto crítico”. A máquina de chuva está diminuindo. As secas costumavam ocorrer uma vez a cada duas décadas, com uma megaseca a cada século ou dois. Mas só desde 1998 houve cinco, dois deles extremos. O efeito é particularmente agudo na Amazônia oriental, que já perdeu impressionantes 30% de sua floresta. A estação seca costumava durar três meses; agora dura mais de quatro. Durante os meses mais secos, as chuvas caíram em até um terço em quatro décadas, enquanto as temperaturas médias subiram até 3,1 graus Celsius – o triplo do aumento anual do mundo como um todo na era dos combustíveis fósseis. Em algumas partes, as selvas já estão sendo colonizadas por gramíneas.
Perder a Amazônia, um dos ecossistemas com maior biodiversidade da Terra, seria catastrófico para as dezenas de milhares de espécies que vivem lá. O aumento das temperaturas também pode levar milhões de pessoas na região a se tornarem refugiados climáticos. E também representaria uma morte mais simbólica, já que “salvar a floresta tropical” tem sido uma espécie de sinédoque para o ambientalismo moderno como um todo. O que mais preocupa os cientistas, no entanto, é o potencial desse ponto de inflexão ecológico regional para produzir efeitos indiretos no clima global. Como os rios voadores da Amazônia circulam de volta ao continente, o impacto pode já estar alcançando além da floresta tropical. Em 2015, o populoso sudeste do Brasil foi atingido por escassez histórica de água; em 2021, tempestades de areia quase bíblicas varreram a região. Se os rios voadores desaparecerem completamente, isso pode afetar a circulação atmosférica mesmo além da América do Sul, possivelmente influenciando o clima até o oeste dos Estados Unidos.
Mas mesmo essas consequências empalidecem em comparação com as consequências de colocar o carbono da Amazônia de volta na atmosfera. Apesar de todo o corte e queima dos últimos anos, o ecossistema ainda armazena cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono em seus troncos, galhos, vinhas e solo – o equivalente a mais de três anos de emissões humanas. Se todo esse carbono fosse liberado, poderia aquecer o planeta em até 0,3 graus Celsius. De acordo com o ecologista de Princeton, Stephen Pacala, isso por si só provavelmente tornaria o Acordo de Paris – o acordo internacional para limitar o aquecimento desde os tempos pré-industriais a 2 graus – “impossível de alcançar”. O que, por sua vez, pode significar que outros pontos críticos climáticos são violados em todo o mundo. Como me disse o cientista britânico Tim Lenton: “A Amazônia retroalimenta tudo”.

Em maio, juntei-me a Gatti em uma viagem ao nordeste da Amazônia. Embora não fosse exatamente parte de sua pesquisa, ela queria visitar a Floresta Nacional do Tapajós, uma área de preservação de 1,4 milhão de acres que continha pistas sobre as misteriosas emissões da floresta tropical e a transformação prevista por Nobre. Primeiro ela voou de São Paulo 1.500 milhas ao norte até Belém, na foz do Amazonas no Atlântico. De lá, ela voou para Santarém, 400 milhas rio acima, onde as águas barrentas do Amazonas se encontram com o azul-escuro do rio Tapajós. Na estação seca, turistas vêm de todo o Brasil para as praias de areia branca do Tapajós. Agora chovia forte, as praias submersas. O rio batia nas calçadas de Santarém.
Santarém é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada por missionários jesuítas numa época em que a única mercadoria local eram as almas indígenas. Sua fortuna aumentou com o boom da borracha no século 19 e caiu com a quebra do século 20. Mais recentemente, foi transformada pela crescente demanda da China por soja, que é usada como ração animal e óleo de cozinha. Gatti apontou as barcaças longas e estreitas atracadas em um terminal administrado pela Cargill, a gigante americana de comércio de commodities. Começou a operar em 2003, um ano antes de Gatti começar a operar voos do minúsculo aeroporto de Santarém. Enquanto dirigíamos para o sul na BR-163, também conhecida como o “corredor de grãos” do Brasil, Gatti lembrou como, naquela época, muitos dos campos eram pastos para o gado pastar. De toda a terra desmatada na Amazônia, mais de dois terços são pastagens. Aqui, porém, Gatti observou a grama dar lugar a um “mar de soja”.
Antes de nossa viagem, Nobre havia me alertado para manter a discrição, porque Gatti havia se tornado um rosto público em meio ao burburinho em torno de suas descobertas. Poucas semanas depois, o defensor dos direitos indígenas Bruno Pereira e o jornalista ambiental Dom Phillips seriam assassinados. O lucro faz sua própria lei na Amazônia. Na região do Tapajós, os proprietários devem preservar 50% de suas propriedades como floresta tropical. Mas Gatti notou como os fazendeiros e pecuaristas continuaram a expandir seus campos, muito gradualmente, em longas e finas faixas destinadas a evitar a detecção pelos satélites de seu próprio empregador, o INPE. Em 2006, a indústria da soja concordou em não plantar em áreas recém-desmatadas. Mas também existem maneiras de contornar isso. Alguns agricultores subornam autoridades locais para obter documentos falsificados. Outros transferem terras para testas de ferro para que possam violar a moratória sem manchar seu nome. Enquanto dirigíamos, Gatti anotou violações para denunciar, embora um de seus ex-colegas tenha recebido ameaças de morte por isso. Ela não escondia suas afinidades, preferindo camisetas com tucanos e araras em fundos floridos.

Gatti, agora com 62 anos, sempre teve uma veia rebelde. Quando ela estava na faculdade, no final dos anos 1970, alguns colegas foram presos por protestar contra a ditadura. Indignada, ela se juntou a um partido político clandestino e parou de frequentar as aulas por um tempo. Embora ela mal soubesse disso na época, foi o regime militar que supervisionou o primeiro esforço moderno para colonizar a floresta tropical. Um de seus projetos mais ambiciosos foi a Rodovia Transamazônica, que perfurou 2.600 milhas a oeste da costa e agora forma a fronteira sul da Floresta Nacional do Tapajós. O objetivo era, em parte, preencher o que os generais viam como um “vazio demográfico”, impedindo a entrada de potências estrangeiras como os Estados Unidos. na Amazônia”. Não importa que a floresta já estivesse ocupada por uma multidão de grupos indígenas; eles também seriam transformados em cidadãos produtivos.
O regime militar também havia construído a BR-163, que se ramifica da Transamazônica, formando a fronteira leste do Tapajós. À medida que avançávamos, placas anunciavam um terreno à venda, uma loja chamada Casa das Sementes, uma Igreja Mundial do Poder de Deus. À nossa direita, o Tapajós era uma imponente parede verde. À nossa esquerda havia terras privadas onde as florestas eram intercaladas com plantações. Era o final da safra de soja agora, quando muitos fazendeiros começaram uma rotação de milho; tratores passavam, longas asas de metal pulverizando pesticidas. Gatti apontou uma área recém-limpa; os baús estavam espalhados como um jogo de picaretas. Mesmo quando os proprietários de terras seguiam a lei, o que antes era um ecossistema contínuo tornou-se um arquipélago, fragmentos de floresta cercados por extensões planas. A certa altura, passamos por uma castanheira solitária, inutilmente protegida pela lei brasileira mesmo em meio à monocultura. “Aqui está a floresta”, declarou Gatti.

Enquanto ela falava, Gatti gesticulava com tanta veemência que às vezes as duas mãos saíam do volante. Ela não demonstrou afeto por Jair Bolsonaro, o ex-oficial do Exército que passou quatro anos como presidente pressionando pelo desenvolvimento da Amazônia. Alegando (sem fundamento) que os números do desmatamento de seu próprio governo eram uma mentira, ele estrangulou o financiamento do INPE a ponto de ele supostamente ter que desligar seu supercomputador. Ele também cortou os orçamentos para proteger os povos indígenas e o meio ambiente. Previsivelmente, o desmatamento acelerou; em 2021, mil árvores foram derrubadas a cada minuto. Gatti às vezes pensava em desistir, mudando-se com seu pastor alemão para uma ecovila no interior. Com Luiz Inácio Lula da Silva de volta à presidência, porém, ela se sente esperançosa pela primeira vez em anos. Na última vez em que esteve no cargo, de 2003 a 2011, o desmatamento caiu dois terços – e agora ele prometeu interromper totalmente o desmatamento. A questão é se isso será suficiente para interromper um processo que agora pode ter um impulso próprio.
Leia o resto da reportagem, em inglês, na página oficial do The New York Times Magazine



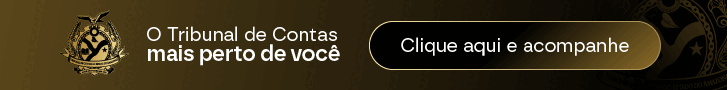
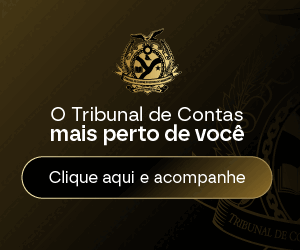















Comentários