Problema do ponto de não-retorno vai além do desmatamento, é sobretudo as mudanças climáticas. Este fenômeno corrói a resiliência da floresta – entrevista com David Lapola, autor do 6º Relatório do IPCC
O ecólogo e meteorologista David Lapola pesquisa há quase duas décadas o tema das mudanças climáticas e a questão do tipping point da Amazônia, o “ponto de não-retorno” ou “ponto irreversível”. Doutor pelo Instituto Max Planck de Meteorologia da Alemanha, onde investigou a questão de modelagem de desmatamento e mudança climática, Lapola colaborou com dois capítulos da segunda parte do 6º relatório científico do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU.
Em entrevista para o podcast Oxigênio do Labjor e da rádio Unicamp, e publicada em uma versão especial em ((o))eco, o pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp falou sobre as mensagens principais do relatório para o mundo e para o Brasil; as diferenças entre mitigação e adaptação às mudanças climáticas; a aproximação da Amazônia de seu ponto de não-retorno e como o desmatamento e a degradação florestal aceleram a aproximação da floresta de seu “ponto crítico”.
Leia a entrevista:
Pelas conclusões do (AR6) de 2021/2022, você diria que a emergência climática que vivemos é mais grave e urgente do que a sociedade poderia imaginar?
David Lapola: O IPCC existe desde 1988. Ele lançou o primeiro relatório em 1990, e a cada cinco, seis ou sete anos o IPCC lança um novo relatório. Os relatórios foram ficando cada vez maiores, mais grossos, porque as evidências sobre as mudanças climáticas foram ficando mais numerosas. Mas esse primeiro relatório [de 1990], disponível na página do IPCC, traz basicamente a mesma mensagem central. Existe um problema de mudanças climáticas!
Naquela época falava-se assim, muito provavelmente; hoje em dia já é – com certeza, é causado por humanos por conta do aumento das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Essa já era a mensagem em 1990, continua sendo agora. O problema é que desde então a gente teve muita dificuldade para resolver isso. Desde então ficou mais claro que era cada vez menos um problema científico e cada vez mais um problema político. É uma decisão política resolver, e como resolver. Claro, o IPCC foi desenvolvendo cada vez mais estudos sobre mitigação, estudos sobre adaptação, mas a decisão de implementar essas alternativas ou não é uma decisão política!
De todas as novidades do AR6, quais você considera as principais mensagens para o mundo?

Uma mensagem muito forte para mim, na verdade, já era conhecida até antes desse relatório, o AR6. O IPCC às vezes publica entre esses relatórios maiores (por ex. AR6, AR5), relatório temáticos [ou especiais] menores. E um desses relatórios temáticos entre o AR5 e o AR6 [o Relatório Especial Sobre 1,5ºC de Aquecimento Global de 2018] já estava apontando que se a gente quisesse ficar em 1,5ºC de aquecimento médio do planeta ao longo deste século, isto não seria possível sem a remoção ativa de gás de efeito estufa, principalmente de CO2 [gás carbônico] da atmosfera.
Essa remoção ativa é ou através de você plantar muita árvore – isso vai absorvendo o CO2 da atmosfera – tema que já está bem estudado, e que por si só fica longe de resolver o problema; ou a gente desenvolve alguma tecnologia que consiga retirar o CO2 da atmosfera em larga escala e armazená-lo embaixo do solo; ou de alguma outra forma. Sem isso – e esta é uma mensagem forte deste relatório especial [de 2018] – não dá para restringir a temperatura em 1,5ºC. E isso, é claro, é uma consequência dessa demora, desde 1990 até agora, em resolver o problema. Outra observação sobre o AR6 é que a parte sobre adaptação está muito mais robusta.
Você poderia falar um pouco sobre como a adaptação e a mitigação podem ser entendidas, e quais suas principais diferenças?
Na mitigação a gente sabe qual é o problema e a gente vai na fonte dele para tentar resolver. No caso de mudanças climáticas, é a emissão de gases de efeito estufa [principalmente CO2, e em segundo lugar gás metano]. Então a mitigação seria cortar as emissões de gases de efeito estufa. No caso de adaptação, é você admitir que o problema vai acontecer [inevitavelmente] e se preparar para ele, para ser o menos impactado possível.
E como a gente está demorando muito tempo, está ficando evidente que os governos não estão conseguindo resolver o problema de mitigar a mudança do clima – seja os governos de cada país, reunidos nas Convenções do Clima [COPs]; seja os governos supranacionais; seja a própria iniciativa privada. Então está se colocando muito foco agora no meio científico, inclusive, em adaptação.
Pesquisas sobre adaptação. Pelo que consegui ver do AR6, notei que ele dedica uma porção substancial tratando de adaptação, estratégias de adaptação – que é diferente da mitigação também no sentido de que a mitigação funciona bem no âmbito nacional-global, enquanto que a adaptação é muito suscetível a especificidades locais. Então a adaptação tem que acontecer em uma escala mais local.
Em relação ao Brasil, quais você considera as principais mensagens do AR6?
Primeiro, em vastas áreas do território nacional a gente tem uma baixa cobertura de estações meteorológicas. E isso é um problema já sabido há muito tempo, principalmente na Amazônia. O que nos leva a um grande ponto de interrogação – o que é que está acontecendo na Amazônia nos últimos 30-50 anos em termos de chuva?
As observações, veja – nós estamos falando de dado histórico do passado, que já foi medido nas últimas décadas –, mostram que o Brasil Central, principalmente na região onde o Cerrado se estende um pouco aqui para o Sudeste, um pedaço também do Nordeste, teve um aquecimento de mais de 2,0ºC, enquanto que a média global desde o início do século passado foi de mais ou menos 0,7-0,8ºC. E nessa parte do Brasil foi mais de dois graus. A gente não entende ainda por quê. Acho que essa é uma mensagem fortíssima dos relatórios do IPCC – a gente não entende ainda por que esse aquecimento acima da média em vastas porções do Brasil.
Claro que outras coisas despontam para o Brasil. Por exemplo, a questão da Amazônia, nesse papel tanto de potencial causador da mudança do clima considerando a quantidade de carbono que você tem armazenado lá e o risco que isso tem de ser desmatado-queimado, mandado para atmosfera – como ao mesmo tempo atua como um fator de resolução das mudanças climáticas.
A floresta amazônica vem atuando como um sumidouro de carbono [em áreas de florestas relativamente intocadas], prestando um serviço de enorme valor para a humanidade. Ela e outras florestas tropicais, ao absorver parte do gás carbônico que a gente joga na atmosfera, e claro que esse sumidouro pode ser impactado; pode até deixar de existir com as mudanças climáticas. Tem a questão dos povos tradicionais também – a importância que eles têm para manter a floresta, seja populações ribeirinhas, indígenas.
Você mencionou brevemente o tipping point da Amazônia, que é um dos seus temas principais de investigação. Uma vez que se trata de uma questão de extrema relevância e urgência considerando as mudanças climáticas em curso, poderia explicá-lo melhor?
Essa questão do tipping point há 20-23 anos atrás quase nasceu como uma hipótese chamada Amazon forest dieback. Dieback quer dizer morte súbita, desaparecimento meio súbito da floresta. Essa é uma hipótese que nasce no seio da mudança climática. Ou seja, tendo uma mudança do clima muito severa na região [amazônica] – aumento de temperatura muito forte, redução de chuva muito severa – as condições de se ter uma floresta como a que a gente tem hoje em dia seriam perdidas. Teríamos assim condições climáticas típicas de uma savana, típicas de uma floresta seca ou típicas de uma vegetação sem análogo hoje.
Inicialmente o IPCC lançou projeções que em um primeiro momento contradiziam a hipótese, cunhada no final dos anos 1990, início dos anos 2000, porque havia um modelo climático que mostrava basicamente um El Niño permanente na Amazônia. No ano passado e nesse ano, nós estamos sob o efeito de uma La Niña – resfriamento acima da média das águas superficiais do [Oceano] Pacífico – que mexe com todo o padrão de chuva e, para a Amazônia, leva mais chuva que o normal. Um El Niño é basicamente o oposto de uma La Niña – aquecimento das águas do Pacífico, e que leva seca para a Amazônia. Você ter um El Niño permanente na Amazônia era catastrófico.

Acontece que o modelo climático usado pelo IPCC foi aperfeiçoado. A nossa projeção de 20 e tantos anos atrás não estava tão precisa. Até o AR5, o quinto relatório do IPCC [de 2014], os modelos climáticos não estavam apontando mais para um El Niño permanente, por isso o risco de haver um tipping point da Amazônia foi considerado pequeno [pelo IPCC].
Mas no relatório agora, o AR6, o IPCC está mais consensual de que a tendência para a Amazônia é de secar – do clima ficar mais seco e da chuva reduzir. Não necessariamente que será igual a um El Niño permanente. E nesse interim também, desde que a hipótese do tipping point foi cunhada, veio a questão de desmatamento, fogo. De como que isso influenciaria e contribuiria nesse processo de mudança climática afetando a estabilidade da floresta.
Como a questão do tipping point amazônico se relaciona ao desmatamento e a degradação da Amazônia?
Tem alguns estudos mostrando que se há uma mudança climática severa e desmatamento você poderia ter essa mudança na região, o tipping point – que é similar a essa ideia do dieback ou da savanização –, ocorrendo antes do que sem ter desmatamento. O que isso nos diz é que é importante parar o desmatamento porque ele pode influenciar na resiliência [capacidade de se recuperar de perturbações] da floresta. Para a Amazônia nós temos cerca de 17-18% da Bacia da floresta que já foi desmatada.
É importante parar esse desmatamento, sem dúvidas, mas talvez, mesmo se o desmatamento for parado e nós tivermos uma mudança climática severa na região [amazônica], o tal do tipping point ainda assim pode acontecer. Ou seja, o problema do tipping point não é apenas o desmatamento, ele é principalmente a mudança climática, que vai corroendo essa resiliência da floresta silenciosamente, mesmo nos rincões mais afastados da fronteira do desmatamento.
Isso sem falar na questão da degradação da floresta, que é um processo que a gente sabe ainda menos. A degradação é aquela floresta que você olha do satélite, do avião, e vê uma floresta ainda –, mas ali as madeiras mais nobres já foram retiradas; já foi sujeita a algum fogo; ou então é uma floresta de borda, próxima a uma área agrícola que vai sendo degradada também por conta do microclima na borda ser diferente.
E as estimativas chegam até 40%. Veja, até 40% de toda a floresta amazônica restante estaria sob alguma forma de degradação. É claro que isso influencia também no nível de resiliência da floresta e pode colaborar para que esse tipping point seja ultrapassado antes do que se a gente não tivesse degradação e nem desmatamento.
E é claro que é mais fácil resolver o problema de desmatamento, resolver o problema de degradação, que é um problema nosso – isso a gente afirma sem dúvida nenhuma. Por mais que a gente fale – vamos ter ajuda das cadeias produtivas; o supermercado britânico não vai mais comprar os produtos derivados da Amazônia ou a carne –, mas em última instância, é um problema nosso resolver o desmatamento e a degradação. Do Brasil e dos outros oito países amazônicos [Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Venezuela, Suriname], com a França incluída. A degradação talvez demande estratégias diferentes da que a gente tem para desmatamento.
Agora a mudança do clima não é um problema só nosso. A gente pode até fazer a lição de casa de reduzir nossas emissões [de gases de efeito estufa], o que passa por reduzir o desmatamento. Boa parte das nossas emissões nacionais vêm do desmate [quase metade das emissões em 2020]. Mas se apenas nós reduzirmos as emissões não vai adiantar. A mudança climática virá se o resto do mundo não reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.
A mudança climática virá e a Amazônia e outros lugares vão ser afetados do mesmo jeito. Então tem essa complexidade – dois problemas de escalas diferentes – desmatamento [e degradação], que tem uma perspectiva mais regional-local; e a mudança climática, que é um problema global. Os dois atuando ao mesmo tempo.

Como sua agenda de pesquisa tem uma relação bastante estreita com o IPCC, como as novidades do Sexto Relatório do IPCC influenciam as pesquisas desenvolvidas por você e seu grupo? Financiamentos de pesquisas no tema das mudanças climáticas também devem ser afetados?
Eu tenho dedicado bastante do meu tempo ao – esse experimento de fertilização por gás carbônico ao ar livre na Amazônia, o primeiro desse tipo em qualquer floresta tropical. Saber como as florestas tropicais e a Amazônia, principalmente, por conta desse tipping point, vai reagir. Se existe esse efeito de fertilização por CO2, quão forte ele é, e quanto tempo ele dura? Isso tem uma importância tremenda e não é de hoje que o IPCC já vinha apontando, na literatura científica, a necessidade de se ter um experimento desse tipo. Então nesse sentido, estamos casados com o IPCC e vamos tentar preencher pelo menos parte desse buraco científico até o próximo relatório, o AR7.
Por outro lado, a gente já vem se dedicando, vagarosamente – inclusive de maneira integrada um pouco ao AmazonFACE – a pesquisas focando em adaptação usando o conceito adaptação baseada em ecossistema (serviços ecossistêmicos). Por exemplo, essa questão de agricultura de baixo carbono, plantio de árvores. Não estou dizendo que é assim que tem que ser feito, mas nós investigamos questões nessa área.
Acho que cada vez vai surgir mais nas agências de fomento, editais para financiar pesquisas em adaptação às mudanças climáticas (MCs) – que é algo que aparece muito pouco – seja no portfólio de projetos de Fapesp e CNPq, mas também nos grupos de pesquisa no Brasil que fazem isso. Temos muita gente no Brasil que se encaixa no primeiro volume do relatório do IPCC – que é a parte física, de meteorologia e de modelagem de mudança do clima –, e no volume 3 do relatório, que se dedica a parte de mitigação. Na parte de adaptação, o Brasil ainda carece bastante de um corpo de expertise nisso. Inclusive a gente está surfando essa onda.
Tem um projeto que eu tenho uma participação menor como pesquisador colaborador – chama-se Ciadapta, e é coordenado pela Gabriela Di Giulio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo. Esse projeto vem se debruçando sobre como as cidades brasileiras estão preparadas para se adaptar à mudança do clima – e os prospectos, primeiros resultados, não são tão animadores não. Eu acho que vai movimentar essa agenda na área da adaptação.
Como você vê a preparação do Brasil para enfrentar as mudanças climáticas? Sabemos que não podemos ter nenhuma expectativa pela agenda anti-ambiental do atual governo…
Na verdade, a gente tem a Política Nacional de Mudança do Clima que foca muito em mitigação, e nem essa mitigação só a gente está conseguindo fazer a contento. A gente prometeu em lei que ia reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020. Não fizemos isso. Em 2020 era para estar em torno de 3 a 4 mil km2 de desmatamento por ano; a gente estava longe disso, beirando os 10-11 [mil km2] em 2020.
Nós temos uma Política Estadual em São Paulo, por exemplo, de mudança do clima com muito foco em mitigação também. Nós temos uma Política Municipal de Mudança do Clima em Campinas com muito foco em mitigação também. O que acho que está faltando desde o âmbito federal, mas principalmente nos âmbitos locais, é adaptação. E nisso nós estamos pouco preparados, como o projeto CiAdapta da [profa.] Gabriela Di Giulio vem demonstrando.
Eu acho que fazer o dever de casa de parar o desmatamento e começar a pensar em uma agricultura mais de baixo carbono. Isso aí é razoavelmente simples – exige vontade política, que é o que nós não temos hoje. Por isso que está degringolando a coisa em relação ao desmatamento e tal. Tem uma questão aí política né. Agora a adaptação é ainda até uma questão científica, sabe, a academia ainda tem muito a ajudar a elencar alternativas de adaptação, e isso tem que ser sempre feito de forma conjunta com os atores envolvidos, quem vai ter que se adaptar. Nisso eu vejo pouca coisa ainda.
Alguma consideração adicional?
No tocante específico à mudança climática, há que se recuperar o prestígio e a importância do Brasil dentro das negociações internacionais. Do Brasil voltar a ajudar a puxar esse carro das negociações, porque de novo, o Brasil pode fazer todo o dever de casa aqui, mas se o resto do mundo não fizer… Então precisa ser uma ação concertada, com “c” no sentido de todo mundo estar junto!
Fonte: O Eco



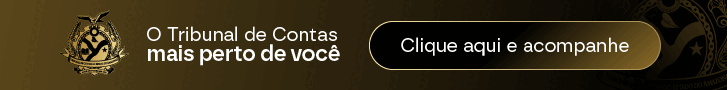
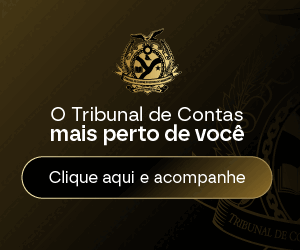















Comentários