Marcos Lisboa e Marcos Mendes
O Tesouro Nacional está em grave situação financeira. A dívida pública como proporção do PIB tem aumentado seguidamente em razão da rigidez do gasto obrigatório. O desequilíbrio das contas públicas ameaça a retomada da atividade. Podemos iniciar 2021 com a maior taxa de desemprego da nossa história.
Estamos flertando com a incapacidade de pagar a dívida pública, o que nos jogará em mais uma década de estagnação, inflação e pobreza. A esta altura, esse risco já não é novidade para ninguém.
O Poder Executivo e o Congresso Nacional deveriam estar se esforçando para reequilibrar as contas da União e, ao mesmo tempo, reorganizar as prioridades orçamentárias, restringindo algumas despesas para abrir espaço à atenção aos vulneráveis vitimados pelo desemprego e pelo vírus.
A realidade, contudo, é desalentadora. O Executivo e o Legislativo sequer tiveram capacidade de aprovar o orçamento do próximo ano. A aprovação da LDO, tão aguardada por viabilizar a execução emergencial do orçamento em 2021, trouxe surpresas desagradáveis.
Em vez de abrir espaço para as grandes prioridades nacionais, assistimos a mais reserva de verbas para as emendas paroquiais, mais pulverização de recursos, mais gastos obrigatórios e, sobretudo, a ressurreição do poder do relator do orçamento de comandar verbas em vários ministérios.
Não bastasse essa falta de sensibilidade com os graves problemas do país, que esquarteja o orçamento e inviabiliza qualquer solução organizada para a grave crise fiscal, social e sanitária, começamos a semana com o anúncio de que se tirou da cartola uma PEC para elevar as transferências federais aos municípios.
Trata-se da PEC 391/2017, já aprovada no Senado e também aprovada em primeiro turno na Câmara. Bastará uma votação em segundo turno — marcada para hoje — e ela vira lei. Sem direito a veto presidencial, por se tratar de uma PEC.
A PEC propõe aumentar em 1 ponto percentual a parcela do Imposto de Renda e do IPI carreados para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O aumento é gradual: 0,25 p.p. no primeiro ano (impacto de R$ 1,08 bilhão), 0,5 p.p. no segundo ano (R$ 2,17 bilhões) e 1 p.p. a partir do terceiro ano (R$ 4,33 bilhões).
Qual o problema? Não seria meritório ajudar os governos locais, que estão suportando o impacto da pandemia, com perda de receitas e aumento da pressão da população com gastos? Não é no município que vive o cidadão, pressionando o prefeito para solucionar seus problemas concretos? Não é lá que o dinheiro público precisa estar?
O problema é que a União já entregou dinheiro a rodo para os municípios este ano. Como mostrado em nota técnica disponível no site do Insper, de janeiro a agosto houve, entre entrega de dinheiro e suspensão de pagamento de dívidas, uma ajuda de mais de R$ 50 bilhões. Quando olhamos o lado da perda de receitas dos municípios, e se supusermos que todo o aumento de despesas decorreu da pandemia (o que dificilmente é verdadeiro), o impacto máximo sobre as administrações locais seria de R$ 27 bilhões. Logo, a ajuda em excesso, em 2020, foi de pelo menos R$ 23 bilhões.
Por conta disso, muitas prefeituras estão com seus cofres cheios. O saldo total de caixa, para 1.907 municípios com dados disponíveis, saltou de R$ 73 bilhões em dezembro de 2019 para R$ 104 bilhões em agosto de 2020: um aumento de R$ 32 bilhões (44%) em plena pandemia.
A última prioridade deve ser enviar mais dinheiro federal para os municípios, pois a dívida pública federal não para de aumentar. É verdade que 2021 será desafiador, que haverá a necessidade de gastos extras com a volta às aulas, que há grande incerteza quanto à atividade econômica e a arrecadação futura dos municípios. Mas também é verdade que o socorro excessivo de 2020 já lhes garantiu gordura para fazer a transição.
Outro problema da PEC está no critério de divisão dos recursos adicionais. O FPM beneficia excessivamente os pequenos e micromunicípios, aqueles com menos de 15 mil habitantes. Ora, essas cidades foram as que menos sofreram com a perda de emprego. Uma consulta aos dados municipais mostra que ali impera o emprego público, que não é afetado pela crise econômica. Esses municípios também não têm estruturas hospitalares complexas, usadas para atender os pacientes de covid. Eles enviam seus doentes para centros maiores.
Será, portanto, mandar dinheiro para o endereço errado. E não há dúvida que os médios e grandes municípios vão reclamar, e não tardarão a exigir o seu quinhão, buscando outro tipo de transferência.
Na fila estão ainda muitos estados que não fizeram os ajustes das suas contas na última década e que pedem novos auxílios da União. Vale ressaltar que os governos locais convivem há anos com regras generosas de promoções e benefícios para servidores, incluindo regimes de previdência que permitem aposentadorias precoces e salários bem acima do teto constitucional.
Essa tentativa de surfar na fragilidade política da União voltará como um bumerangue e atingirá os próprios estados e municípios.
A desestruturação fiscal mina a credibilidade do Tesouro, aumenta a incerteza, derruba o investimento e pressiona os juros. Menos emprego, menos arrecadação estadual e municipal, mais pressão do eleitor carente sobre o prefeito e o governador.
Não é hora de criar mais instabilidade. Os três níveis de governo deveriam estar discutindo, juntos, uma pauta responsável, e enfrentar, por exemplo, o crescimento do gasto obrigatório com servidores da ativa e aposentados. Em vez disso, muitos parecem achar que governar é conseguir passar adiante o cheque sem fundo.
O silêncio do Executivo, com a exceção do secretário do Tesouro, indica descontrole da gestão econômica. A barganha política na luta pela presidência das casas do Legislativo torna desanimador este final de ano.
Marcos Lisboa e Marcos Mendes são economistas do Insper.
Fonte: Brazil Journal



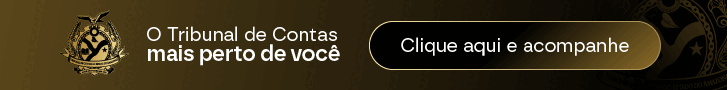
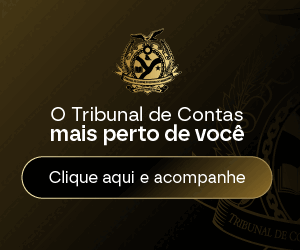















Comentários