A história demonstra seu fio condutor. As transformações civilizatórias estruturais sempre estarão além do campo do possível e é preciso compreendê-las
O ano de 1968 é lembrado como o ano que nunca acabou. Marcou o início de uma ebulição civilizatória. Na esteira da Revolução Francesa, que inspirou ideais democráticos no século XVIII, jovens franceses foram às ruas para questionar as inconsistências políticas e sociais.
Em 10 de maio de 1968, barricadas foram levantadas no Quartier Latin e os levantes protagonizados pelos jovens se espalharam pelo mundo. Reivindicavam democracia e direitos individuais e coletivos.
Fortes determinantes justificavam esse levante. A guerra do Vietnã era uma preocupação constante e motivo de protestos. Havia o temor de uma 3° guerra mundial. A Guerra Fria ameaçava o mundo com o potencial avassalador de forças nucleares.
O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a reação contra ditaduras militares na América Latina e movimentos operários foram atores que complementavam as demandas globais, postulando uma revolução civilizatória. Bob Dylan, Joan Baez e uma nova geração de artistas já fazia eclodir, desde o início dos anos 60, uma versão folk de protestos, que ganhava corpo nos meios universitários e de comunicação de massa.
O grande conflito da modernidade estava explicitado: contra a Guerra Fria, em defesa da paz, contra a ascendência do capitalismo em direção à globalização e em defesa das liberdades de minorias e individuais.
O filósofo e sociólogo francês Edgar Morin afirmou, em 1968, que os fatos revelavam que “o subterrâneo da sociedade é um campo minado”. O também filósofo e escritor francês Jean Paul Sartre dirigiu-se aos estudantes amotinados da Sorbonne dizendo: “Trata-se do que eu chamaria de expansão do campo do possível”. E completou: “Não renunciem a isso”.
Fruto de toda essa efervescência cultural começaram a ganhar peso os limites do crescimento. Em 1968, setores do pensamento progressista empresarial e científico protagonizaram o que acabou sendo conhecido como o Clube de Roma. Iniciaram uma reflexão que acabou por gerar o relatório “Os limites do Crescimento”, debatido na Conferência de Estocolmo em 1972 e publicado em 1973 sob a chancela do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Podemos dizer que o advento da Economia Verde, defendida na Conferência Rio+20, é uma evolução desta proposta que permeou a economia — e que os atuais “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” representam metas que englobam reivindicações presentes em 1968. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG (ambiental, social e governança) com avanços positivos que ainda patinam na prática do greenwashing. Também deram origem ao conceito transformador do Capital Natural, que orienta fluxos financeiros responsáveis conectados ao meio ambiente e o bem-estar humano
Hoje é muito mais fácil compreender aqueles tempos. A história demonstra seu fio condutor. As transformações civilizatórias estruturais sempre estarão além do campo do possível e é preciso compreendê-las. Desde a publicação em 1962 da “Primavera Silenciosa” da bióloga Rachel Carson, a percepção sobre as questões ambientais começava a ganhar contornos críticos. Isso foi possibilitado pelos irmãos Odum, Howard e Eugene, que levantaram em 1953 os fundamentos da Ecologia, dos quais destaco os princípios sobre a capacidade de suporte do meio.
Durante a Conferência de Estocolmo, em 1972, o conceito de desenvolvimento sustentado já permeava o imaginário da sociedade, que apenas veio a consolidar-se em 1987 nos resultados do documento Nosso Futuro Comum, da comissão liderada por Gro Blundland, primeira-ministra da Noruega.
Na Conferência de Estocolmo, em 1972, o Brasil demonstrou uma posição terrivelmente reacionária. Com o apoio do Itamaraty, estendeu faixas em Estocolmo com dizeres: “Bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento”.
Qualquer semelhança com o governo de Jair Bolsonaro não é mera coincidência. A lógica é a mesma de quando ele se dirigiu a Al Gore em Davos, em 2020, dizendo: “A Amazônia tem muitas riquezas e gostaria de explorá-la junto com os Estados Unidos”, ao que Gore, perplexo, respondeu: “Não entendi muito bem o que você quis dizer”.
Bolsonaro repete a mesma lógica da época da ditadura militar. A rodovia Transamazônica cortou a floresta entre os anos 1969 e 1974. Naquela época, as imagens da destruição foram tão fortes no cenário global que o Brasil teve sua própria imagem comprometida. Como satisfação ao clamor em defesa da Amazônia, precisou avançar na estruturação de mecanismos legais de proteção ambiental.
Em 1981 foi promulgada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e o Brasil consolidou-se como um Estado de Direito Democrático e sobretudo um Estado de Direito Ambiental.
O Brasil foi um dos pioneiros no mundo a ter uma constituição ambiental. Isso mudou a imagem brasileira no exterior e possibilitou não só seu protagonismo, mas também abriu caminhos para se tornar uma liderança global.
Quatro anos depois da promulgação da Constituição, no início da retomada democrática, o Brasil já liderava, ao lado das grandes nações, a área ambiental global. Sediou a Conferência Rio 92 da ONU, que atraiu mais de uma centena de chefes de Estado, cujo resultado foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), dando origem ainda às convenções do Clima, da Diversidade Biológica e do combate à desertificação.
Importante registrar que a temática ambiental é inerente ao DNA do Brasil, detentor de uma imensa riqueza equatorial-tropical de florestas e biodiversidade. Portanto a ascensão do Brasil a uma condição de liderança global na área ambiental é apenas o exercício de sua vocação natural potencializada por vontade política.
Mas ocorreu uma intensa volatilidade neste processo. Os avanços progressistas começaram a minguar na primeira década do século XXI. Na segunda década, após a Rio+20 e a COP21 de Paris, o mundo foi tomado por um forte refluxo civilizatório. Este fenômeno, conhecido como backlash, caracterizou-se na ascensão do negacionismo global protagonizado por Donald Trump nos Estados Unidos, seguido posteriormente por Jair Bolsonaro no Brasil.
O negacionismo é, em sua gênese, frágil e inconsistente. Traz líderes sem sustentação lógica, apoiados por campanhas subterrâneas de fake news que possam garantir sua sustentação política, quadro muito assemelhado ao fascismo e sua verve demagógica, anticientífica e anti-humanista.
As consequências do governo de Jair Bolsonaro foram o desmantelamento dos mecanismos de transparência e participação social, por meio de alterações de decretos, portarias e toda a sorte de instrumentos infralegais. O aparato operacional e de recursos destinados à fiscalização foram desmantelados, assim como foram desprestigiados os sistemas de informação ambiental como o Inpe, além de provocar perdas e retrocessos para a área de pesquisa científica e inovação.
O Brasil transformou-se em uma república das bananas, sob a influência dos setores mais atrasados do agronegócio, onde a simpatia e a tolerância do governo para com desmatadores e mineradores ficou evidente. Dessa forma, a criminalidade tomou conta da Amazônia e a floresta apresenta níveis de desmatamento alarmantes, com aproximadamente 1.000 km² a cada mês.
Além disso, o governo avançou sobre o legislativo e o judiciário, com troca de favores com o Centrão, massa política amorfa e oportunista instalada na Câmara Federal. Nomeou um procurador geral da República de sua simpatia e indicou para o Supremo Tribunal Federal dois ministros de sua confiança, que vêm usando de artifícios protelatórios para travar processos com pedidos de vistas.
Não preciso me estender mais sobre o retrocesso civilizatório que o Brasil apresenta. É um fato amplamente noticiado. Mas é preciso abordar os riscos que o Brasil corre, desguarnecido por um governo irresponsável.
Na área federal o Brasil abandonou a política do clima e as iniciativas estaduais são incipientes. O relatório AR6 do IPCC demonstra o avanço das mudanças climáticas para além dos índices esperados, o que implica uma urgência no processo de adaptação, especialmente diante de eventos climáticos extremos.
Neste meio século, desde a Conferência de Estocolmo em 1972, foram muitos os acontecimentos que marcaram a história. Porém, podemos dizer que vivemos uma contínua devolução dos avanços civilizatórios ao ostracismo, o que demonstra a fragilidade da consciência pública em matéria ambiental.
O problema central é que a urgência que se desenhava em 1972 agora está plasmada em nossa realidade. O alerta sobre os limites do crescimento cedeu lugar às consequências da ultrapassagem desses limites e fomos além das margens da segurança. Vivemos no Antropoceno, onde o excesso das atividades humanas destrói a capacidade de suporte ambiental dos ecossistemas.
Chamo a atenção para a volatilidade da posição brasileira. Antes de 1992 o Brasil foi um pária internacional que se transformou em um Estado de Direito Ambiental. Passou da condição de pária à liderança internacional — e com Bolsonaro retornou ao estado de pária. Essa volatilidade demonstra a falta de freios e contrapesos institucionais para manter a estrutura democrática ambiental do Brasil, vitimado por uma imaturidade ética e social.
Na próxima fase poderá retomar sua vocação natural, de protagonista e líder global na área ambiental. Porém, é muito importante refletir sobre seus meios de equilíbrio, para a manutenção dos processos progressistas transformadores sem permitir bruscos e profundos retrocessos históricos.
Devemos retomar a constatação de Edgar Morin: “O subterrâneo da sociedade é um campo minado”, e retomar a expansão do campo do possível apontado por Sartre, em especial mantendo a capacidade transformadora, sem renunciar aos direitos fundamentais à vida e ao meio ambiente saudável.
O desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e de um dos maiores especialistas brasileiros em questões indígenas, Bruno Araújo Pereira, possivelmente assassinados pela criminalidade que corre solta na Amazônia, lembra a morte de Chico Mendes e tantos outros defensores ambientais, configurando mais este inaceitável ciclo de retrocessos que a sociedade brasileira deve extirpar.
Transformações estruturais demandam tempo e etapas sucessivas. Então, diante da volatilidade da governança ambiental no Brasil, devemos manter presente a frase de resistência: não renunciar ao que parece ser impossível.
Fonte: O Eco



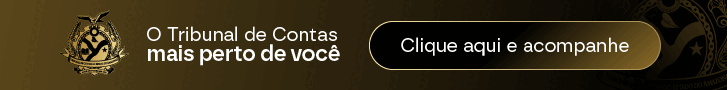
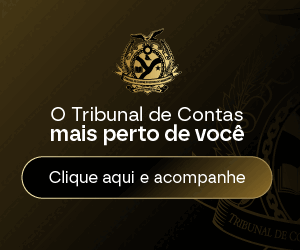















Comentários