Em 2017, aproximadamente dois anos após a ocorrência do desastre da Samarco/BHP/Vale em Bento Rodrigues, os jornais alardearam o ajuizamento de uma ação pelo próprio Rio Doce – ou, mais precisamente, por sua bacia hidrográfica (vide peça inicial).
No meio jurídico ambiental, formaram-se imediatamente duas grandes frentes. Uma delas, preocupada objetivamente com a efetiva recuperação ecológica e social dos espaços atingidos, denunciou prontamente a inconsistência da petição inicial.
Convido os leitores a ouvirem o debate sobre o tema aqui tratado nos dois episódios mencionados de “Narrativas do Antropoceno”: #9 – Pachamama: a voz da natureza na Literatura e no Direito – Convidado: Prof. Roberto Zular (Letras USP) e #10 – É tempo de um novo pacto constituinte? Debate com Roberto Zular. Part. especial: Ricardo Camargo e José Nuzzi Neto. Vão aqui, porém, algumas questões que, por uma questão de tempo, não chegaram a ser tratadas diretamente nas duas gravações.
Pachamama de Pelotas e a destruição do Rio Doce pela Samarco / BHP / Cia. Vale
O procurador federal Marcelo Kokke, que hoje atua nas ações relacionadas àquele desastre, sintetizou as enormes fragilidades do pedido em artigo publicado poucos dias após a notícia no site do Conjur.
Nesse artigo, Marcelo Kokke denunciava que os meios de comunicação não estavam dando a atenção devida ao próprio processo judicial, preferindo debater questões ligadas ao biocentrismo e ao direito comparado, citando na ocasião a conformação normativa da Índia, da Colômbia ou da Bolívia. Por esse motivo que afirmou que a ação estava sendo “romantizada”, com muita poesia e lirismo e pouco conteúdo jurídico.
Dentre outras questões, Marcelo Kokke ponderou que não haviam sido arroladas como rés na ação nenhuma das empresas envolvidas. Embora a ação remetesse ao desastre, os únicos réus eram a União Federal e o Estado de Minas Gerais. E se perguntava; Como uma ação que se propõe a uma ampla tutela ecológica sequer indica poluidores ambientais do rio que afirma ser o autor? Outro ponto levantado por Marcelo Kokke dizia respeito à representação da autora, isto é, da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Quem havia proposto a ação era uma certa “Associação Pachamama, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sediada na Ponte dos Silveiras, Colônia Cascata, 5º Distrito de Pelotas, Rio Grande do Sul”, distante 2.100 quilômetros de Mariana.
Por fim, o professor Marcelo acusava a generalidade dos pedidos: a instituição do cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desastres; e a elaboração do Plano de Prevenção a Desastres de Minas Gerais. Para o Rio Doce propriamente dito, nada era pedido. Por esse motivo, Kokke via com preocupação a possibilidade de o Direito Ambiental vir a ser sujeitado a uma funcionalidade meramente simbólica, instrumental e insistia que o uso simbólico do Direito Ambiental distorce e compromete o bem jurídico que aparentemente expressaria proteção, exercendo uma pseudotutela ambiental na medida em que sua expressão de exercício é simbólica, aparente, irreal.
Pachamama: um novo paradigma biocêntrico no Direito Processual Civil?

Numa outra perspectiva, boa parte da comunidade jurídica se encantou com a ideia de se trazer a própria Natureza para o polo ativo das ações coletivas, tendo como base precedentes jurisprudenciais do direito comparado. É que, na mesma época da destruição do Rio Doce pela Samarco / BHP / Companhia Vale, debatia-se uma decisão da corte constitucional colombiana que havia reconhecido o direito do próprio Rio Atrato ajuizar uma ação.
Na verdade, este debate já estava posto desde 1996, quando Christopher Stone escreveu o estudo “Should trees have standing?”, lançando a ideia de direitos da própria natureza. A partir daí, sobretudo na América Latina, essa ideia passa a ser desenvolvida sob a perspectiva dos estudos decoloniais, apontando-se que não apenas os europeus haviam submetido a uma posição de subserviência e inferioridade os povos originários, mas também a própria natureza, enxergando-a, da mesma forma que um aborígene, uma mulher ou um afrodescendente, isto é, como bem apropriável, mero objeto de direitos.
As Constituições do Equador, em 2008, e da Bolívia, em 2009, tentaram desconstruir a lógica do pensamento eurocêntrico, trazendo para o capítulo sobre o meio ambiente um nome que se tornaria conhecido internacionalmente: “pachamama”, algo que, à falta de uma tradução mais adequada, poderia ser traduzido por “mãe terra” ou “mãe natureza”. Dispõe o artigo 72 da Constituição Equatoriana:
A natureza ou Pachamama onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos.
Na Constituição Boliviana, a referência está no preâmbulo: Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. No que diz respeito ao meio ambiente, os dispositivos pertinentes falam da necessidade de busca da “harmonia com a natureza”. No entanto, é importante destacar que seu art. 30, inciso I, reconhece as nações e povos indígenas originários campesinos toda coletividade humana que compartilhe identidade cultural, idioma, tradição histórica, instituições, territorialidade e cosmovisão, cuja existência seja anterior à invasão colonial espanhola.
O que temos em discussão, na verdade, é a possibilidade de se trazer para a Literatura e para o Direito uma perspectiva filosófica e antropológica consagrada por alguns povos originários da América Latina.
Sob a perspectiva da Literatura, já contamos com algumas experiências bem-sucedidas. Ultrapassamos o formato do arcadismo de Basílio da Gama e Frei de Santa Rita Durão e do romantismo de Gonçalves Dias e José de Alencar, ingressamos no Modernismo com o Macunaíma de Mário de Andrade e, finalmente, chegamos a Guimarães Rosa, com o conto “Meu tio o Iauaretê”, que se encontra no volume “Essas Estórias” ou com a novela “O recado do morro”, integrante de “Corpo de Baile”. O que há de novo nesses dois trabalhos de Guimarães Rosa é que, pela primeira vez, buscou-se traduzir a própria voz da natureza para o campo da literatura. No conto, Rosa fala da transformação de um mestiço, filho de mulher indígena, que assume seu parentesco com as onças. Na novela, por sua vez, a voz é da própria montanha. Num e noutro caso, a figura do ser humano é deslocada do centro e assume-se uma perspectiva ecocêntrica de literatura. Estes são alguns dos temas debatidos nos episódios #9 e # 10 do podcast Narrativas do Antropoceno, com o Procurador do Estado/SP e Professor Roberto Zular, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, que contou também com a participação do Procurador do Estado/RS e Professor Ricardo Antonio Lucas Camargo (Direito UFRGS) e do Procurador Autárquico José Nuzzi Neto (DAEE-SP). Na segunda parte do podcast, o professor Ricardo Camargo tece algumas considerações sobre os desdobramentos filosóficos que a conversão do conceito de natureza como objeto para o de sujeito traria para o pensamento ocidental. Também apresenta objeções à proposta de Roberto Zular, defendida no episódio anterior de Narrativas do Antropoceno, com respeito à convocação de nova Assembleia Nacional Constituinte nos dias de hoje. O procurador José Nuzzi Neto participa dos debates, tecendo considerações sobre o lugar da fala a respeito de questões envolvendo direitos dos povos originários, já que os debatedores seriam, todos eles, descendentes de europeus. Nuzzi também sugere uma hipótese a respeito das razões que teriam levado Guimarães Rosa a buscar retratar de forma fidedigna a fala dos habitantes do grande sertão.
Limites do Direito Ambiental no contexto do ultraliberalismo

Cabe destacar, porém, que para além destas duas posições, há 25 anos, o professor Wolf Paul, da Universidade de Frankfurt, já havia publicado um artigo intitulado “A irresponsabilidade organizada? Comentários sobre a função simbólica do Direito Ambiental”, que integra um volume precioso, chamado “O novo em Direito e Política”, organizado por José Alcebíades de Oliveira Junior (Livraria do Advogado Editora, 1997). Nesse artigo, Wolf Paul revia totalmente suas posições a respeito da inevitabilidade de um consenso mundial para a adução de uma ética de responsabilidade para a proteção e conservação da natureza. Comentava o ajuizamento de uma ação muito parecida com as recentes ações ajuizadas em nome de rios e bacias hidrográficas. Tratava-se de uma ação proposta em nome dos lobos-marinhos do Mar do Norte. Estes animais estavam morrendo infectados por doenças viróticas ou simplesmente envenenados por dejetos industriais. Por isso, segundo Wolf Paul, “os lobos marinhos solicitaram diante do tribunal a anulação do ato administrativo do Instituto Hidrográfico” (da Alemanha), isto é, a revogação da autorização de serviços industriais no ecossistema marinho onde viviam. Como resposta, o Tribunal recusou a ação com custos para os demandantes (os lobos-marinhos), que eram representados por diversas associações, como o Greenpeace e o WWF, dentre outras. Dentre outras razões de decidir, o tribunal alemão considerou que os animais selvagens habitavam em alto mar, fora da jurisdição da Alemanha. Além disso, por serem animais, não possuíam capacidade postulatória, que só é concedida a pessoas naturais ou jurídicas. Animais, por sua vez, sendo coisas, não poderiam constituir representante processual humano. Em suas conclusões, Wolf Paul afirma que o Direito Ecológico assume uma racionalidade sistêmica contraditória – que ele chama de irresponsabilidade organizada – funcionando como instrumento efetivo quando se trata de utilização do meio ambiente, sua exploração, uso, distribuição, administração, planejamento, organização, informação etc. No entanto, contrariamente, opera de forma simbólica quando se trata de proteção decisiva e efetiva do meio ambiente. Por esse motivo, para ele, o Direito Ecológico, há 25 anos, já lhe parecia uma “cruzada, encenada simbolicamente em todos os espaços do planeta. Na mencionada cruzada, realizam-se batalhas, propagam-se vitórias e declara-se o perpétuo controle do inimigo, um inimigo com o qual nunca se teve nem terá contato, até que o presumível inimigo manifeste-se na feição imponente e trágica de invernos atômicos, catástrofes climáticas, desertificações de amplas regiões da terra, mares e lobos-marinhos mortos, extinção das espécies e outras monstruosidades parecidas, nascidas dos sonhos da razão humana e desenfreadas pelo sistema de irresponsabilidade organizada. Presenciamos hoje – e como juristas do Direito Ambiental o experimentamos praticamente – uma verdade jusfilosófica muito antiga que diz: Fiat iustitia, pereat mundus. Faça-se a justiça, pereça o mundo.”
Quando levamos a perspectiva ecocêntrica para o Direito, alguns problemas acabam surgindo, sobretudo de ordem processual. Afinal, se o Direito brasileiro é uma construção cultural de origem romano-germânica, tendo sofrido nos últimos anos forte influência do sistema anglo-saxão, sobretudo por pressão econômica dos Estados Unidos, como é que poderíamos garantir a efetividade, não de um direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está no artigo 225 de nossa Constituição, mas um direito dos próprios ecossistemas à vida, e até de um direito dos elementos abióticos da natureza, o ar, a água e o solo? No Equador e na Bolívia, povos originários, com uma cosmovisão muito diversa da europeia, conseguiram levar para as constituições de seus países muitos valores de sua cultura autóctone (sobretudo quéchua e aimará). Esses países, contudo, não estão desvinculados do modo de produção e consumo capitalista globalizado, que tem caráter energívoro e altamente predatório.
Quanto ao Brasil, as expectativas políticas (política aqui entendida em seu sentido mais radical etimologicamente falando, de convívio na pólis) a curto e médio prazo são muito mais estreitas: no momento, lutamos para ter que provar que o planeta Terra não é plano e que não é saudável aglomerar-se sem máscaras e álcool em gel em meio a uma pandemia. Parece-me evidente que, sem a presença de segmentos da sociedade civil no núcleo do poder político, econômico, social e cultural, como a imensa categoria do precariado urbano, dos povos indígenas e afrodescendentes, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+ e dos produtores orgânicos de agricultura familiar, dentre outros, acreditar no poder mágico de um Direito Ambiental, rebatizado de Direito Ecológico – denominação que, a bem da verdade, era a de seu berço em 1974 (vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Sérgio Ferraz, dentre outros) – e em iniciativas simpáticas, porém, sem noção da correlação de forças em jogo, como a de se autodeclarar a personificação de um rio, um animal ou um morro, procedendo de modo processualmente temerário, só servirá para alegrar ainda mais os beneficiários da irresponsabilidade organizada pelo ultraliberalismo que está levando o Planeta Terra, em passos largos, para a morte.
Mas há ainda uma tênue luz acesa no Brasil hoje. Hoje, com o crescimento da produção cultural pelos próprios povos originários em todos os campos das Artes, não há mais lugar para quem quer que seja arvorar-se à condição de seu porta-voz – ao menos no campo da Literatura e da Música. No dia 15 de maio passado, a grande imprensa, que vinha especulando a respeito da eleição de um escritor afrodescendente para uma das três vagas da Academia Brasileira de Letras, noticiou que o escritor Daniel Munduruku vai apresentar seu nome para concorrer a uma cadeira. Daniel é autor de dezenas de livros, tendo obtido o 2º lugar, em 2017, na categoria infanto-juvenil do Prêmio Jabuti, com o livro “Vozes Ancestrais”. Numa busca no Spotify ou no Youtube, por outro lado, podemos encontrar incontáveis programas produzidos por povos originários, de excelente qualidade, divulgando a cultura indígena contemporânea no Brasil. O primeiro passo para a mudança de correlação de forças (hoje representada por pelo menos 300 deputados federais afáveis à necropolítica) é a afirmação da identidade cultural de quem sempre teve o nome apagado por quem escreveu a história do colonizador. Seria uma utopia pensar num próximo governo federal que contasse, ao menos nas áreas do meio ambiente e dos povos indígenas, com a participação de pessoas da estatura de Davi Kopenawa Yanomami, Ailton Krenak ou Eliane Potiguara? Se isso vier a acontecer em tempo hábil, aí sim poderemos pensar num Direito Ambiental, Ecológico ou Socioambiental realmente sério e não apenas simbólico e contemporizador.
Fonte: O Eco



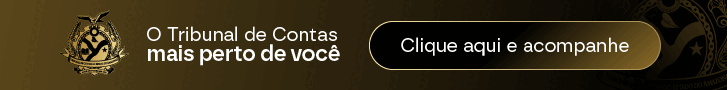
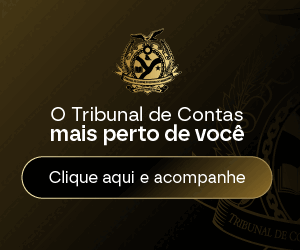















Comentários