Essa postura passa por uma valorização das compreensões nativas de saúde e tratamento, tratando-as como prioridade e enxergando as comunidades indígenas como autônomas em seus conhecimentos
Recentemente, o Ministério da Saúde inaugurou um Centro de Referência em Saúde Indígena em território yanomami, no Estado de Roraima; 14, de 117 profissionais do Programa Mais Médicos foram enviados à região para integrar o quadro dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena. Em declaração recente, o secretário de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba, alertou sobre a necessidade de ultrapassar a “atenção primária” oferecida a indígenas no Brasil.

O aumento de assistência médica para indígenas é analisado criticamente por José Miguel Nieto Olivar, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP: “O modelo da saúde coletiva brasileira tem apostado em evitar o que se chama de centralização na figura do médico, da medicina e do atendimento médico, entendendo que o campo da saúde é muito amplo, diverso, muito profissional e com um trabalho muito amplo de especialidades, de saberes sobre cuidados, sobre cura e prevenção”.
Essa postura passa por uma valorização das compreensões nativas de saúde e tratamento, tratando-as como prioridade e enxergando as comunidades indígenas como autônomas em seus conhecimentos, como reitera Olivar: “Não são técnicos da saúde, nem professores universitários, que trabalhamos com saúde, que vamos definir o que é bom e o que é ruim no campo da saúde indígena […] grupos comunitários têm uma capacidade de conhecimento, de reflexão e de ação gigantesca e fundamental para cuidar seus processos de saúde, então não somos nós que vamos dizer como deve ser articulado, o que deve ser ampliado ou o que deve ser feito”.

A antropologia também é uma ferramenta que pode garantir êxito em ações para a saúde indígena, como explica Marina Vanzolini Figueiredo, professora do Departamento de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP: “A antropologia se dedica a se aproximar da perspectiva das comunidades locais, a perspectiva dos povos indígenas nesse caso, então, é entender como é que essas doenças estão sendo experimentadas. Dentro dessas comunidades, buscar se aproximar do modo como isso é vivido, entendido e interpretado”.
Esse entendimento parte do pressuposto de que “o modo como a atenção à saúde é organizada e oferecida pode ser também violento, no sentido de não respeitar as compreensões nativas de saúde e não respeitar as interpretações locais do que significa cuidado e do que precisa ser feito, de quais são as medidas que precisam ser tomadas”, diz Marina.
Questão territorial
A saúde indígena está diretamente atrelada ao território, e esse é um fator determinante tanto para a proliferação de doenças quanto para acesso ao atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde: “Muitos casos de problemas de alimentação, de problemas de diabete ou adoecimentos relacionados com água, malária e outras doenças transmissíveis por vetores dizem respeito estritamente a condições ambientais e à organização e desorganização dos territórios”, explica Olivar. “A intensificação do garimpo tem uma relação muito alta com as variações e intensificações de malária, de diferentes tipos de malária, e da presença de maior consumo de refrigerantes, por exemplo, de açúcar e de pão em muitas comunidades, atreladas a processos de perda de território e expulsão.”
O território é também determinante na recepção de indígenas em postos de saúde: ”O gargalo está numa separação, que hoje não faz mais sentido nenhum, entre indígenas nas comunidades e indígenas nas cidades. O subsistema de saúde indígena tem se focado no trabalho com as comunidades, em muitos casos de maneira excludente. Então, quem é uma pessoa indígena que está numa cidade não tem acesso às possibilidades e às fortalezas do sistema de saúde indígena e com as suas instituições e dispositivos e fica apenas com o SUS local”, ele completa.
Marina também alerta que “[As doenças] podem ter um efeito a longo prazo de profunda desorganização psicossocial, das pessoas e das comunidades enquanto coletividades, um efeito de enfraquecimento profundo dos modos de viver tradicionais”.
Reivindicações
A pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP e mulher indígena da etnia Baré, Elizângela da Silva Costa, no Alto Rio Negro (AM), explica algumas das necessidades observadas no território onde vive:

“A gente tem pequenas cidades indígenas que se chamam distritos. Esses distritos são compostos como se fossem um minimunicípio. Em virtude disso, nós, povos indígenas, a gente está reivindicando que tenha pequenos hospitais também, além das UBS, que possam atender os nossos parentes.” Elizângela traz também um panorama da saúde indígena na prática: “A saúde indígena é voltada mais para os primeiros-socorros. Então, por exemplo, não tem raio X nas comunidades, não tem essas coisas para fazer prevenção do câncer de útero ou então de próstata, essas doenças que não são da nossa vivência como povos indígenas. No Outubro Rosa, muitas vezes dentro da UBS, não tem espaço adequado para fazer o PCCU. Às vezes, uma pessoa cai e quebra [um membro] e não tem como fazer um raio X”.
Para ela, a saúde indígena ainda é “um tema muito questionado e é muito difícil convencer a sociedade brasileira que a medicina tradicional indígena é uma forma dos povos indígenas se resguardarem, de se cuidarem”. Elizângela também exemplifica alguns dos cuidados que foram tomados durante a pandemia de covid-19: “A gente soube se cuidar e se resguardar através dos chás das nossas comunidades, dentro da nossa casa defumações com resinas de breu, benzimento. A gente usou o que a natureza nos oferece e, quando a gente fala isso, a sociedade em si não entende”.
Originalmente publicado pelo: JORNAL DA USP



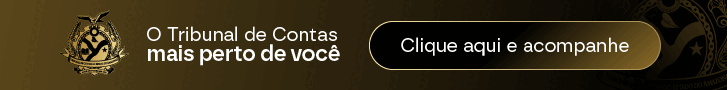
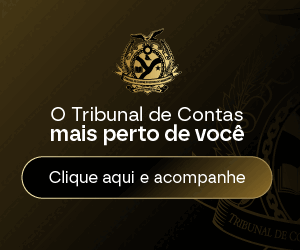















Comentários