Depois de mergulhar em vários dos documentos que pesquisei e dos adicionais que recebi, a sensação que tive é que não saímos do vago para o prático, da “bioeconomia” para a bioeconomia, de um faz de conta para a realidade, de um greenwashing para a sustentabilidade, da teoria para a prática.
Por Augusto Cesar Barreto Rocha
__________________
No Brasil fazemos muitos planos – faz parte da nossa cultura. Nossa dificuldade é de executá-los. Por exemplo, no setor de infraestrutura e transportes, há planos para melhorar o país desde o Plano da Comissão de 1890, que contempla projetos de infraestrutura para a Amazônia, que, até hoje, não saíram do papel.
Neste contexto, na semana passada, discuti o quanto é vago o termo bioeconomia para a Amazônia e recebi uma enxurrada de comentários, permitindo-me algumas reflexões adicionais, evoluindo o que pensava. Neste texto, elaboro um pouco mais a questão e, no próximo, apresentarei possíveis encaminhamentos que acredito serem adequados para o assunto Bioeconomia na Amazônia.
Depois de mergulhar em vários dos documentos que pesquisei e dos adicionais que recebi, a sensação que tive é que não saímos do vago para o prático, da “bioeconomia” para a bioeconomia, de um faz de conta para a realidade, de um greenwashing para a sustentabilidade, da teoria para a prática. Mantive a sensação de uma distância grande do necessário para a transformação para um modo de vida mais próspero e equilibrado ou de uma similaridade ampla com o que vem sendo feito nos países mais avançados. Segue a lógica do “chutando a escada”, prevalecem os modelos que mantém desigualdades.

Em praticamente todos os planos há grande boa vontade e interesse pelo país. Em cada um deles há enorme mérito. A problemática não são os planos em si ou seus autores abnegados, são os poucos recursos alocados para eles serem realizados. Se fazemos planos maravilhosos, mas não executamos ou se apenas realizamos as pequenas partes negativas ou de baixo impacto, como esperar uma transformação? Será que se quer transformação?
Há estudos de todo o tipo, desde o feito cautelosamente pelo CGEE até de órgãos públicos federais ou estaduais, projeto de lei complementar, planos de instituições privadas ou think tanks financiados por bancos. Fiquei com a nítida impressão de que já temos vários planos, com alguma dificuldade de fazer a transição deles para as ações transformadoras, tal qual a nossa prática histórica.
É uma tradição que temos: planejar e não fazer, em especial para a região Amazônica. Enquanto isso, ela é entrecortada por mais de 3 milhões de quilômetros de vias vicinais não oficiais, segundo estudo do Imazon, publicado em 2022. É como se estivéssemos uma das zonas de exclusão “socioeconômica das pessoas”, conforme estudado pelo geógrafo Rogerio Haesbaert e outros.

Contudo, a restrição que mais preocupa é outra: aquela que não percebe onde é a melhor conclusão para os planos, voltada para o interesse do país e de sua gente. São os planos que mantém a relação de dependência com o capital estrangeiro, com a ciência estrangeira e com a transferência de recursos para os grandes centros nacionais. Como inaugurar uma nova dinâmica, com novas soluções para os antigos problemas regionais?
Há oportunidades de realizar pesquisa científica para a mudança dos sistemas produtivos para melhor, mas se alocarmos pesquisa e inovação para a extração e transferência de produtos do “agro” amazônico para o exterior, a partir do que se tem na Amazônia, onde estará a transformação? Qual a diferença disso para o que já temos na soja contemporânea do centro-oeste, na extração de minério do Pará de 50 anos atrás ou do pau-brasil de séculos atrás? A questão é: como romper a perpetuação de modelos destrutivos? O convite é para a reflexão e ação.

Augusto Rocha é Professor Associado da UFAM, com docência na graduação, Mestrado e Doutorado e é Coordenador da Comissão CIEAM de Logística e Sustentabilidade



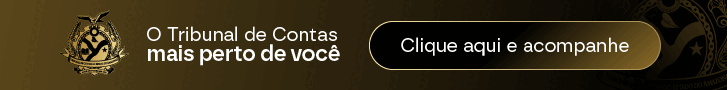
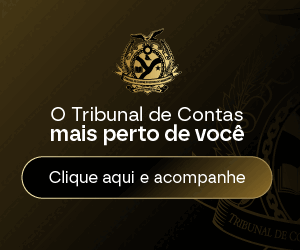















Comentários