Morando em Altamira, no Pará, jornalista relata como é viver próximo dos povos da floresta e coloca Amazônia como o centro do mundo
“Estar anestesiado com a tragédia é ser cúmplice”, desabafa a jornalista Eliane Brum. A frase foi dita por Eliane no dia 2 de junho, durante uma entrevista exclusiva para ((o))eco sobre jornalismo, Amazônia e seu novo livro. A conversa ocorreu exatos 3 dias antes da notícia do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, cujos assassinatos brutais foram confirmados em meados de junho. E a frase de Eliane, à época, referia-se à crise climática. A tragédia da morte de Bruno e Dom no Vale do Javari, na Amazônia, entretanto, dá outros contornos e contexto para o desabafo da jornalista.
Em respeito à Eliane Brum e à cobertura sobre o ocorrido no Vale do Javari, ((o))eco optou por adiar a publicação desta reportagem, que agora vai ao ar com a certeza de que as discussões levantadas pela jornalista seguem tão, ou ainda mais, relevantes e necessárias.
Na entrevista com ((o))eco, Eliane Brum já alertava, sobre o contexto climático global, que “estamos em guerra”. A afirmação foi repetida em sua coluna no Portal Nexo publicada no dia 13 de junho, quando Eliane Brum se manifestou sobre a dor da perda dos colegas.
“É desesperador ficar gritando que estamos em guerra e não sermos entendidos. Porque entender não é concordar, retuitar ou dar likes, é algo mais duro: é agir como pessoas que vivem uma guerra. Se no Brasil e no mundo as pessoas não compreenderem isso desta vez, as vidas de quem está no chão da floresta, com os corpos na linha de frente, valerão ainda menos do que valem agora. E quando as lideranças dos povos-floresta, os ambientalistas, defensores e jornalistas da linha de frente estiverem mortos, a floresta também estará”, escreveu Eliane.
Nascida no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, Eliane ganhou notoriedade nas coberturas de direitos humanos e ambiental, apesar da jornalista ter confessado não se encaixar em nenhum desses rótulos. Autora de 9 livros publicados, é vencedora dos prêmios Açorianos e Jabuti de literatura. Com passagem pelos jornais Zero Hora, El País e pela revista Época, Eliane Brum, hoje, mora muito longe de onde sua história começou. Altamira, no norte do Pará, é o seu lugar. Mais perto do que ela chama de centro do mundo.
Em seu livro mais recente, “Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo”, publicado pela editora Companhia das Letras (2021), Eliane conta os desafios vividos pelos povos da floresta, que sofrem com o desmatamento ilegal, a falta de demarcação de terras e as constantes ameaças dos garimpeiros que assombram a região. Com cuidado na escolha de palavras, Eliane Brum dá voz aos que resistiram após terem suas vidas completamente mudadas com a construção da Usina Belo Monte. “Banzeiro” é a forma como é chamada a brabeza do Rio Xingu pelos que habitam seu território. Mas, para Eliane Brum, “banzeiro” significa outra coisa. É a revolução interna que aconteceu com ela após a mudança para Altamira, tão perto da Floresta Amazônica.
Foi das margens do Rio Xingu, na companhia dos seus animais de estimação e tomando um chimarrão – hábito que ela ainda carrega das suas origens gaúchas –, que Eliane Brum concedeu esta entrevista exclusiva para ((o))eco, na qual fala sobre jornalismo e literatura, além dos desafios do colapso climático.
((o))eco: Com tantos anos trabalhando como jornalista, saindo do interior do Rio Grande do Sul e percorrendo outros estados para chegar no Pará, quais foram os principais desafios de toda essa jornada? E o que mudou na sua percepção sobre a Amazônia?
Eliane Brum: O primeiro marco é quando saio do Rio Grande do Sul e refaço a marcha da Coluna Prestes [Movimento político-militar ocorrido entre 1924 e 1927], em 1993. Eu faço aquele longo percurso de 25 mil quilômetros e me deparo com diversos países, diversos ‘Brasis’. Isso me transformou profundamente. Foi ali onde também tive diversos desafios como repórter, onde tive que fazer escolhas muito difíceis. Em 1998, eu ainda na Zero Hora, fiz a minha primeira incursão na Amazônia, durante duas semanas. Entrei na Amazônia por meio de um projeto de destruição da floresta, a Transamazônica. E aí foi outra descoberta, diversas línguas e linguagens. Não só dos indígenas que moravam ali, porque eles foram dizimados para a construção da Transamazônica. Mas das pessoas que iam habitando as margens da rodovia. Nesse momento foi um deslumbramento das palavras.
Depois, fiquei em São Paulo por 17 anos, onde eu tive a chance de fazer reportagem em todos os estados amazônicos. E vim para a Amazônia por conta do que eu ia escutando e aprendendo. Fui entendendo que a crise climática não chegou, ela já está aí. Fui me dando conta que tinha outra coisa acontecendo, ia atravessando as narrativas. Mas tinha uma dissonância de um relato para outro. As pessoas que eu entrevistava não chamavam de crise climática. Foi um processo. Aí eu entendi também nessa trajetória que a Amazônia era o centro do mundo. Não como retórica, mas que nesse momento de colapso climático, de extinção em massa em espécie, ela é o lugar central.
Os principais e verdadeiros centros do planeta são os enclaves da natureza, os suportes naturais de vida como a floresta e os oceanos. Isso vai muito além de um significado geopolítico.
É a necessidade profunda de uma mudança de linguagem para um mundo onde a natureza não seja recurso, que a natureza não seja mercadoria. Diante disso, em 2016, eu estava aqui em Altamira e me dei conta de que se eu defendo a Amazônia como centro do mundo e eu sou jornalista, como eu não estou no centro do mundo? Vim para cá por coerência, precisava fazer esse movimento literal, com o corpo. O ponto de partida de onde olho o corpo. Eu vim me amazonizar, me desbranquear.
Tendo em vista que a cobertura ambiental da região amazônica é feita, muitas vezes, por pessoas que não estão na região, como podemos fazer para a nossa cobertura se afastar do senso-comum?
Eu continuo achando que o jornalismo precisa ser feito ao vivo de corpo encarnado. Acho que é preciso vir pra cá. Mas estando longe, eu acho que é pela escuta, que é o nosso principal instrumento. Uma escuta que de fato escute essa nova maneira de pensar. Além disso, precisa estudar muito para entender o que está acontecendo aqui e fazer as conexões. Muitas vezes o problema das reportagens é que elas tratam coisas que são conectadas como se elas fossem segmentadas. Esse é um problema da cabeça desse pensamento eurocêntrico, cartesiano, branco. Isso faz com que não façamos as devidas conexões o tempo inteiro. Não tem como inventar, é preciso fazer jornalismo de qualidade. Ele te garante e te dá instrumentos para entender pela escuta, pela investigação rigorosa. Hoje eu também acredito que a gente [jornalistas] precisa dar um passo a mais, aprender com um novo tipo de pensamento. Acho que isso vai vir com outros comunicadores que estão entrando na narrativa jornalística. Jornalistas que vem dos povos florestas, que trazem uma nova forma de entender o próprio jornalismo.
Os princípios do jornalismo foram abandonados por parte da imprensa. Mas nesse momento, nesse limite que vivemos é preciso fazer também o que não se sabe. A gente precisa se transformar muito profundamente, desconstruir o nosso próprio pensamento. Nossa própria maneira de fazer as coisas, nosso entendimento sobre o mundo, sobre a natureza, sobre quem somos. Só temos uma chance de ter um futuro com alguma qualidade se a gente se transformar em outro tipo de gente. Recuperar o que foi destruído pelo capitalismo, como a comunidade. Deixar de sermos unidades individuais para nos tornarmos comunidades orgânicas num planeta orgânico. Com todos os seres. O nosso desafio é enorme porque temos pouco tempo. Nós, jornalistas brancos, precisamos nos transformar. Estamos todos no mesmo processo, precisamos hoje fazer o que a gente não sabe em um tempo muito curto.
As mudanças climáticas estão aí: temos dados, especialistas ao redor do mundo alertando sobre o assunto e também os desastres ambientais acontecendo. Mesmo assim, as pessoas não acreditam na urgência do tema. Ou acreditam que isso é coisa do “futuro”. Como é trabalhar com as questões ambientais em um momento de negacionismo científico e climático?
Eu não tenho uma fórmula de como a gente muda. Como a gente rompe com o negacionismo. Ele está infiltrado. Na minha percepção, a maioria das pessoas é negacionista. É uma palavra que ficou forte com o Jair Bolsonaro, mas o negacionismo vai muito além dele. É algo que está infiltrado dentro da maioria da população. Acho que a pergunta é como fazemos para retomar o instinto de sobrevivência das pessoas? Por isso que é tão difícil. O nosso instinto de sobrevivência foi destruído junto com as comunidades pelo capitalismo há séculos, é um processo contínuo.
As pessoas sendo moldadas dessa maneira, com a ideia de que tudo pode ser resolvido pelo “homem” (não mulher, nem humano, o homem). A modernidade e as ilusões. Hoje temos o Elon Musk tentando colonizar Marte, achando que a saída para a crise climática é colonizar outros planetas. A gente ainda é essa criatura forjada pelas ideias da modernidade, de que a gente poderia resolver tudo junto com a destruição da comunidade. Chegamos nesse momento totalmente inédito na trajetória da nossa espécie, que é tão grave porque corremos risco da nossa própria extinção. E não temos nenhum instinto de sobrevivência. E é algo que qualquer organismo muito mais primário tem. Qualquer ser vai tentar sobreviver.
E isso acontece por que estamos afastados da natureza?
Total. Toda essa modernidade nos afastou da natureza e nos tornamos outra coisa. Onde o planeta se tornou um conjunto de recursos para nos servir, transformando esses recursos em mercadoria. E isso está infiltrado em até quem acha que não está se afetando. Como fazer as pessoas reagirem se vivemos há séculos com uma configuração mental para construir indivíduos incapazes de lutar pela própria sobrevivência? É igual a imagem da Greta Thunberg, “a nossa casa está em chamas”. Aqui no verão é literal. Fica tudo coberto de fumaça. As pessoas estão sentadas enquanto a casa está pegando fogo. Qualquer outro ser estaria fazendo qualquer outra coisa para não deixar a casa queimar. E a gente não é proprietário desse planeta, a gente divide com milhares de outras espécies e somos parte integrante desse planeta, dessa natureza.
Temos esse desafio porque se estamos ameaçados de extinção, temos que acordar de manhã prontos para lutar contra a extinção. Mas as pessoas acham que podem tocar a vida. E não estão entendendo que a pandemia é efeito da destruição da natureza. Então já temos uma geração de crianças que nasceram sem socialização, ficando presas em casa. O mundo inteiro viveu isso. Já é um presente hostil. Não é que o futuro é hostil, o presente já é hostil. E mesmo assim as pessoas não se movem. E temos esse esforço de tentar mostrar o quanto o cotidiano delas já é afetado pela crise climática. E a imprensa tem sua parte de culpa porque essa conexão deveria ser feita o tempo inteiro para as pessoas entenderem. Só nos resta continuar se manifestando, gritando, falando.
Estamos em guerra climática. É uma guerra contra uma maioria dominante que continua nos levando ao abismo. Uma guerra contra grandes corporações e grandes governos.
Eu tenho completa convicção de que vou morrer lutando essa guerra. E tenho também completa convicção que estamos perdendo. Porque ou todo mundo acorda e luta contra essa minoria dominante que está levando a Amazônia a um ponto de não retorno ou vamos perder.
Nossa guerra é contra parte da nossa espécie. Aqui, a gente morre todos os dias por isso. Estamos conectados com as pessoas. Precisamos nos comportar como pessoas capazes de lutar. Que se responsabilizem pelas suas vidas e pela vida do outro. Pelo planeta, pela comunidade. As pessoas não se responsabilizam por nada.
Ainda falando sobre a questão de violência e conflitos por terra. Estamos vivendo num momento em que se normalizou o absurdo, onde nada mais choca. Como fazer para que a vida das pessoas tenha a devida importância em um mundo onde todos os dias vivemos tragédias tão duras?
Isso não é encarado como tragédia. A gente não se comporta como sendo uma tragédia. Se a gente não se portar como sendo uma tragédia, não for pra rua, ocupar os prédios públicos, nada vai mudar. É preciso fazer um movimento real. Dizer que é tragédia é fácil, mas não estamos vivendo como se fosse uma tragédia. Estar anestesiado é ser cúmplice.
Acho que precisamos diferenciar quem são nossos inimigos nessa guerra. Esse é o meu problema quando generaliza, “a crise climática foi causada por ação humana”. Sim, foi provocada por ação humana, mas não venha responsabilizar todos os humanos quando a maior parte da população humana sempre foi excluída desse clube. Então, não somos todos nós, não. Não estamos compactuando com isso. Esse “nós”. “Nós” estamos anestesiados. Não, eu não tô. Você não tá. Precisamos responsabilizar as pessoas. Precisamos apontar de quem é a responsabilidade.
Você fala muito no livro sobre essa relação de poder que você sente que existe entre o homem branco e a Amazônia. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e principalmente sobre a relação de exploração.

Para mim é muito claro que não dá pra entender a crise climática sem entender que ela é atravessada pelas questões de gênero, raça, classe e também de espécie. E o Bolsonaro, como em tudo, ele, na sua brutalidade, explicita isso. Ele diz que “A Amazônia é a virgem que o tarado de fora quer” (sic). Ele explicita exatamente essa relação: a Amazônia que é um corpo, formado por muitos corpos orgânicos e conectados, e ela é desde o primeiro branco que colocou os pés aqui nesse território o chamando de sua. Ela é tratada como um corpo, um corpo feminino diante da lógica patriarcal, que é a lógica desse branco que chega aqui e viola a floresta como todas as mulheres são violadas. Por isso que essa frase do Bolsonaro significa tanto. Esvaziar esse corpo e depois abandonar, depois de esvaziado. Os povos amazônicos sempre foram tratados assim. As pessoas aqui são esvaziadas de sua humanidade para que seus corpos possam ser destruídos. Então é esse olhar que destrói a Amazônia até hoje.
Nessa ideologia, o problema não é a violação dos corpos, a violação da Amazônia e de seus povos. O problema é o estupro, os tarados de fora… Nessa ideologia que é constantemente ativada de que os gringos querem tomar a Amazônia. O exército precisa estar nas fronteiras porque todo mundo quer essa virgem. Sempre foi necessário autorizar a violação da Amazônia. Aumentar o ritmo. Então se faz essa manipulação da soberania. Ela é tão falsa que a gente chega nesse acontecimento recente, o Elon Musk sendo recebido pelo Bolsonaro como um subalterno. O homem mais rico do mundo. O Bolsonaro abrindo espaço. Mostra-se como é falso esse discurso da soberania. É isso. É uma Amazônia sempre tratada como um corpo para uma violação. E não é por acaso que são as mulheres que nesses momentos são as principais lideranças pela luta em defesa da floresta. Em comunidades quilombolas, indígenas, nas periferias das cidades amazônicas, nos movimentos sociais, e mesmo no Judiciário, no Ministério Público e na defensoria, são as mulheres que lutam por esses corpos. Por esse respeito à floresta e ao corpo.
Em um capítulo do seu livro, você fala sobre as histórias de abuso e estupro sofridos pelas mulheres de Altamira. Recentemente, tivemos o caso da indígena Yanomami de 13 anos que foi estuprada e morta por garimpeiros em Roraima. Como a questão da disputa de terra, garimpo e desmatamento ilegal estão relacionadas com esses crimes contra as mulheres?
Para mim é a mesma lógica de violação. A mesma lógica que permite a violação da Amazônia, permite a violação das mulheres. Eu escrevi sobre Altamira porque é a região que eu cubro, a minha escuta aqui é de muitos anos, então pude perceber isso. Mas não acho que seja uma questão de Altamira, do Médio Xingu. Acho que é uma questão de todas regiões que estão mais violadas. A violação, a violência, ela rompe com todos os laços e se multiplicam, se reproduzem. Pra mim é a mesma lógica. Foi o que aprendi ouvindo mulheres. A lógica da destruição do corpo da floresta é a lógica de destruição dos corpos das mulheres. Estatísticas já estão mostrando que essa violência só vai aumentar, assim como vai aumentar o número de suicídios.
Tem algo importante a dizer, do meu ponto de vista, que é um equívoco de grande parte dos ambientalistas, de separar os povos, ou seja, os povos da floresta são os povos originários, os quilombolas, os ribeirinhos, etc, mas considerar com muita desconfiança a questão dos camponeses. Vivendo aqui, é muito claro que não tem possibilidade de manter a floresta em pé sem reforma agrária. E com essa população invisibilizada, principalmente nesse momento, onde eles têm sido aniquilados e destruídos. Esse preconceito que o movimento ambiental precisa superar porque sem olhar para os camponeses que já estão na Amazônia, nos assentamentos, sem incluí-los nessa luta, a gente não tem floresta em pé. Precisa de reforma agrária. Sem reforma agrária não existe justiça climática. As mulheres tiveram as armas no peito, as crianças completamente traumatizadas, não querem ir pra escola porque têm medo de morrer, medo de deixar as casas, medo de deixar as mães na casa. Acham que as casas vão ser invadidas e queimadas.
Outra questão é que o jornalista não escuta as crianças como diretamente afetadas, como uma das maiores vítimas desse projeto. Eu aprendi isso após muito tempo escutando seus pais e mães. Acompanhei elas crescerem, se tornarem adolescentes e muitas delas se suicidarem. As crianças vêem os seus pais se destruírem. E os mais frágeis são os que morrem primeiro. E a gente vê em Altamira essa série de suicídios de adolescentes que apontou muito fortemente, que eram crianças na construção de Belo Monte. Elas viram suas casas sendo queimadas na construção de Belo Monte. O mundo que elas viviam foi afogado por Belo Monte. Elas foram jogadas e seus pais se destruíram.
Como resistir em épocas tão assombrosas como a que estamos vivendo?
Eu me movo conforme meu instinto de sobrevivência, e a sobrevivência não só minha que interessa. Minha sobrevivência é conectada a minha comunidade, à comunidade a qual eu pertenço. E a comunidade que eu pertenço é dos vivos. E isso inclui humanos, não humanos… Essas são as minhas pessoas. O instinto de sobrevivência é da minha comunidade.
Minha família é com quem eu convivo. Eu não vou perder o pouco tempo que a gente tem me perguntando se vai, se dá, se não dá.
É simples: se tua casa está em chamas, a gente não fica se perguntando se vai dar tempo. A gente se move como forma de sobrevivência. Se vai dar ou não, eu não sei.
O título do livro coloca a Amazônia no seu lugar: o centro do mundo. Você se sente parte desse centro de mundo ou ainda tem a sensação de ser uma estrangeira?
Eu me sinto. Eu me sinto organicamente parte do planeta. É difícil de explicar. É uma mudança no corpo. Durante muito tempo eu fui um indivíduo e eu era quase um objeto. Eu era outra coisa. Hoje nem minha mente, nem meu corpo são coisas diferentes e nem eu sou um indivíduo. Eu estou muito conectada ao planeta. E isso me faz ter um tipo de estar no mundo diferente, que não sei como explicar. Não tenho palavras pra explicar isso. Ao mesmo tempo, tento manter o olhar estrangeiro, que acho que é o olhar do jornalista. Que ainda é capaz de sair e se olhar de outros ângulos. Eu acho que sigo as duas coisas, mas meu habitat, a mim mesma, mudou completamente e muda a cada dia porque esse “a mim mesma” não faz mais o mesmo sentido que fazia. Sou uma outra eu. Em que o eu é coletivo. O eu é uma contradição em si.
Morando num lugar tão perigoso como Altamira, tratando de assuntos tão delicados quanto os que tu tratas, tu não sentes medo desse trabalho?
Acho que medo é algo importante, desde que ele não te paralise. Eu acho que eu tenho essa consciência, por isso eu raramente falo sobre meus riscos. Porque falar sobre isso é colocar a importância no lugar errado. Os riscos das pessoas que estão na floresta agora é um risco infinitamente maior que o meu. Eu ainda carrego esse privilégio por ser branca. Então é claro que eu tenho risco e tenho consciência de que as coisas saem do controle muito facilmente, mas o risco delas é muito maior. Pessoalmente eu aceitei que estamos em guerra e entendi que essa guerra vai durar muito além da minha própria vida e eu escolhi lutar e eu aceito os riscos.
Desde a morte da Marielle, todo dia de manhã, tu publicas a contagem de quantos dias se passaram desde aquele 14 de março. Esse assassinato te marcou de forma diferente?
Eu estava voltando de Anapu em 2018, cheguei em casa em Altamira e soube do assassinato da Marielle. Um dia antes tinha sido assassinado um quilombola. Essas mortes pra mim são todas conectadas. Ficou muito claro que o país tinha mudado. A morte da Marielle é um marco e representa todas essas outras mortes. Foi um marco de um limite que foi superado no Brasil. Eu entendo que a Marielle encarna, como mulher negra, criada no Complexo da Maré, uma mulher lésbica, e uma mulher… Ela encarna todas as forças tratadas como periféricas que reivindicam seu lugar de centro. E ela ousou ocupar esse lugar de centro e foi executada. E ela encarna tudo isso, torna ela ainda mais representativa. Ela é um símbolo e não é à toa que faz todos esses dias sem que se saiba quem são os mandantes, as razões do assassinato. Um crime impune, não por acaso. Justiça pela Marielle é fundamental para o Brasil ter um novo futuro.
Fonte: O Eco



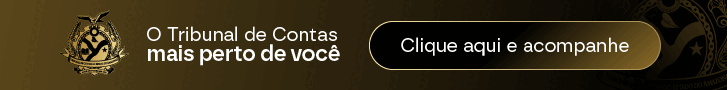
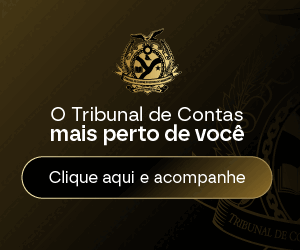















Comentários