A 16ª edição dos Webinários da ABC | Conhecer para Entender da série “O mundo a partir do coronavírus”, realizada no dia 21/7, teve como tema “A preservação da Amazônia através da bioeconomia”. A série consiste em encontros semanais interdisciplinares de especialistas para apresentações e debate sobre assuntos ligados às transformações impostas pela pandemia da COVID-19.
Os participantes desta edição foram o Acadêmico Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Ele é membro titular da ABC, da Academia Mundial de Ciências (TWAS) e membro estrangeiro da National Academy of Science (NAS) e está desenvolvendo o projeto “Amazônia 4.0”. O integrante do povo Tukano, etnia indígena do Rio Uaupés, no Alto Rio Negro, João Paulo Barreto, doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e coordenador do Centro de Medicina Indígena da Amazônia; e o Acadêmico Carlos Joly, coordenador do programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Biota-Fapesp) e da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES).

vice-presidente da ABC para a Região Norte
e um dos maiores especialistas em
Amazônia do mundo.
Esta edição contou com a mediação do Acadêmico Adalberto Luis Val, vice-presidente da ABC para a Região Norte. Ao iniciar o webinário, Val destacou o excelente documento produzido pela ABC em 2008, “Amazônia: Desafio brasileiro para o século XXI” que continua atual. Relembrou, também, a atuação do político Gilberto Mestrinho, que foi prefeito de Manaus e governador do Amazonas por três mandatos. “Ele foi importante para a ciência, tecnologia e inovação na região, especialmente pela construção do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e pelos primeiros esforços de implantação de uma bioeconomia, em 1980.”
Uma Amazônia utópica
O Acadêmico Carlos Nobre apresentou dados alarmantes sobre o processo de desmatamento que avança pela Floresta Amazônica. Segundo ele, o processo de degradação já atinge 16% a 17% de seu território. Se esse índice de desmatamento ultrapassar 20% a 25% da região, é possível que não haja retorno para a recuperação da floresta. “A Amazônia poderá passar por um processo de ‘savanização’, ou seja, poderá se tornar uma espécie de savana degradada em 60% a 70% de seu território. Vemos isso acontecer do sul da bacia amazônica até o Oceano Atlântico, atingindo também o Amapá e a Guiana Francesa”, disse.

No início de sua carreira no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em 1975, o Acadêmico teve como diretor Warwick Estevam Kerr, Acadêmico, geneticista e engenheiro agrônomo, que já falava sobre a geração de bioindústrias e o potencial amazônico. Desde 2017, Nobre começou a desenvolver, com a ajuda de outros especialistas, um projeto que interliga a preservação do bioma e de sua diversidade com a geração de produtos de valor agregado, além de proporcionar o crescimento econômico das populações locais, o “Amazônia 4.0”. “Esse projeto surgiu a partir da necessidade de criar um novo modelo para a Amazônia, uma bioeconomia fundamentada na biodiversidade. Essa Amazônia que queremos pode parecer uma utopia hoje, mas é uma alternativa aos modelos degradantes de uso intensivo de recursos naturais pelo extrativismo e outras atividades, como a agricultura e a mineração”, apontou o Acadêmico.
Nobre destacou que o grande potencial do Brasil para o século XXI é o conhecimento e utilização sustentável da biodiversidade. “A ideia do Amazônia 4.0 é dar um novo olhar às tecnologias e promover sua utilização para sustentar os ativos biológicos da Floresta Amazônica”, explicou. Produtos nativos, como o açaí e o cacau, e uma nova forma de plantio, a agrofloresta, podem fomentar uma nova economia na região. “O modelo de extração sustentável dos produtos agroflorestais é muito mais lucrativo do que o modelo que elimina a floresta, como a pecuária e a monocultura de soja”, completou.
O projeto Amazônia 4.0 envolve também o monitoramento de microrganismos em laboratórios locais, um trabalho que ganhou importância durante a pandemia, e a capacitação da população da região para negócios sustentáveis. Uma dessas iniciativas é a The Rainforest Business School, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP) com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para acelerar o conhecimento técnico-científico de alunos graduados e pós-graduados para novos negócios. “Seremos eternamente fornecedores de commodities para as nações industrializadas? Fornecedores de matérias-primas serão sempre países extremamente desiguais”, questionou Nobre.
Carlos Nobre foi um dos autores do documento sobre a Amazônia produzido pela ABC, em 2008, que mostrava, entre outros dados, que a região tinha apenas 2% dos doutores de todo Brasil. “Eu e Jacob Palis – então presidente da ABC – levamos as ideias do documento à Brasília e não houve repercussão. Existia uma enorme falta de visão de investir em ciência e tecnologia e reforçar a quantidade de pesquisadores para a Amazônia”, disse. “Vamos para o buraco se não investirmos na Amazônia. Temos que atrair novas cabeças do mundo empresarial que entendam que é necessário investir em pesquisa aplicada em parceria com o conhecimento tradicional”, pontuou Nobre. “Precisamos sair dessa realidade da pandemia para um novo mundo sustentável, com o plano de uma trajetória que nunca percorremos até agora na história recente da humanidade”, alertou Nobre.
A floresta e os conhecimentos indígenas

“Não é possível falar sobre Amazônia sem falar dos povos indígenas presentes nessa terra há 13 mil anos, sem incluir os povos ribeirinhos e quilombolas e todos os que habitam a grande Amazônia”, disse João Paulo Barreto. As culturas indígenas foram responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias em arquitetura, cerâmica, manejo da floresta, manejo da terra, manejo dos rios, no desenvolvimento da medicina e cuidados do corpo, que, segundo Barreto, foram esquecidos pela ciência. Como consequência, as línguas e os conhecimentos indígenas, que poderiam ser importantes para a sobrevivência da floresta e a manutenção de sua biodiversidade, sofreram um apagamento ao longo do tempo.
“Há um desafio de conciliar as tecnologias e os conhecimentos científicos construídos nos centros de pesquisas com os modelos indígenas. São teorias e modelos de conhecimento distintos”, disse João. Para ele, os conhecimentos gerados pela ciência devem levar em consideração o que já foi produzido pelos povos indígenas em suas terras, um trabalho reverso ao que foi feito ao longo de décadas, desde a colonização do Brasil. “Fomos levados a negar o nosso próprio conhecimento durante décadas e, agora, somos doutrinado pela ciência. Estamos esquecendo nosso conhecimento e tornando dependentes químicos”, afirmou.
Um exemplo citado por Barreto como modelo de conhecimento indígena é a produção de remédios com bases naturais. “Há um conjunto de comportamentos associados à produção de um remédio que não existe em um laboratório e que envolve outro tipo de conhecimento. Precisamos de uma tecnologia que seja capaz de dialogar com esse modelo de compreensão do mundo”, disse. “Nosso conhecimento não está focado apenas na questão objetivo, como na ciência. Nosso conhecimento está muito além. A consequência de má relação que estabelecemos com o mundo terrestre e os seres que habitam no cosmo se manifesta num conjunto de fatos “anormais” sob formas de doenças desconhecidas, grandes impactos de fenômenos naturais, escassez de recursos naturais, desequilíbrio de bioindicadores de tempo, entre outros fenômenos anormais, afetando nossa vida social, política, econômica e ambiental”. completou.
Para Barreto, a cooperação começa com a descolonização do pensamento para lidar com as populações indígenas. “Para isso, a ciência deve estar aberta”, afirmou. O entendimento, segundo ele, é essencial para a construção de novas cooperações com conhecimentos milenares, como os dos povos indígenas brasileiros. “Nós estamos abertos ao diálogo”, completou.
“A biodiversidade é o nosso grande modelo”

O Acadêmico Carlos Joly é uma das referências nacionais e internacionais em programas de pesquisa em biodiversidade. Ele analisou o contexto da bioeconomia no Brasil, apresentou modelos e práticas de produção que levam em conta os conhecimentos tradicionais e lembrou importância do Protocolo de Nagoya para o Brasil. Para Joly, o termo “bioeconomia” está se tornando cada vez mais popular, mas, muitas vezes, não traduz os conceitos elaborados a partir de sua terminologia.
“A bioeconomia não é apenas transportar um modelo de forte investimento, que exige retorno econômico rápido, geração de empregos, abertura de empresas, recolhimento de impostos. É, sobretudo, a adoção de um sistema de sustentabilidade socioambiental”, disse o Acadêmico. Dessa forma, a bioeconomia valoriza as culturas regionais e envolve o conhecimento tradicional na participação da cadeia produtiva. “É preciso promover essa integração entre o que existe de conhecimento tradicional com o desenvolvimento tecnológico. Assim, esse sistema também poderá trazer mais qualidade de vida para as populações que viverão dessa economia”, disse.
O açaí, a pupunha, a castanha do brasil, o cupuaçu e o camu-camu são alguns dos produtos da terra amazônica apontados por Carlos Joly como exemplos de sucesso de manejo sustentável da produção e de geração de renda. “Além de gerar um processo de desenvolvimento econômico com um produto local, esse investimento ajuda na conservação de milhões de hectares de floresta”, disse. Ele destacou iniciativas como a empresa Natura, que utiliza princípios ativos de plantas da Amazônia e emprega mais de cinco mil famílias, gerando capacitação e investimento local. Destacou também o exemplo bem sucedido do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, principalmente no manejo do pirarucu,
“A diversidade de moléculas de cada uma das espécies amazônicas, sejam animais, plantas ou microrganismos, é enorme, e praticamente não utilizamos esse recurso”, afirmou o Acadêmico, ao defender uma melhor administração do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Criado em 2002, o CBA nunca cumpriu os objetivos que justificaram sua criação, e atualmente tem o objetivo de oferecer suporte às empresas regionais da Amazônia na produção, por exemplo, de produtos farmacêuticos, cosméticos e da indústria de alimentos, além de promover a inclusão da população local.
Joly defende que o Protocolo de Nagoya, ainda não ratificado pelo Brasil, proporcionaria um outro avanço para a região amazônica por meio de novas diretrizes de utilização dos recursos genéticos. “Por 15 anos, tivemos a vigência de uma legislação que impediu o desenvolvimento da área de bioprospecção no país. Esse setor praticamente não recebe investimentos”, disse o cientista. O registro de patentes de processos envolvendo moléculas de potencial econômico oriundas da flora amazônica, ainda pouquíssimo praticado no Brasil, é um dos entraves para o desenvolvimento econômico da região.
O órgão que deveria orquestrar todas essas questões é o Conselho da Amazônia, hoje composto pelo vice-presidente da República e por militares, sem a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional do Índio (Funai), órgãos com atuação direta na proteção do meio ambiente e das populações tradicionais indígenas. Carlos Joly destacou ainda o fato da comunidade científica amazônica não estar representada no Conselho. “Na elaboração de um projeto de bioeconomia para Amazônia a participação das instituições de ensino e pesquisa da região é absolutamente imprescindível”, afirmou o acadêmico. Para os especialistas, esse é um reflexo das ações do Governo em relação à Amazônia atualmente. Em junho, no mês anterior à edição deste webinário, os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram um novo recorde nos alertas de desmatamento da Amazônia, com sinais de devastação que chegaram a atingir cerca de 3 mil km2 no semestre.
Confira o vídeo:
Fonte: Academia Brasileira de Ciências



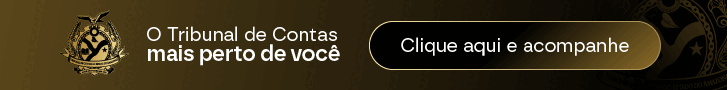
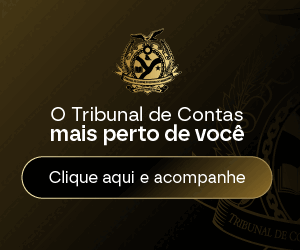















Comentários