Em 1974 o governo brasileiro iniciou a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Localizada no município paraense homônimo, a cerca de 450 km de Belém, era um projeto de Brasil Grande. A terceira maior hidrelétrica do mundo à época – e a maior 100% nacional – teria barragem com 11 km de comprimento e 78 metros de altura, com área alagada maior que o território dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo somados. Em 1984, ao ser inaugurada por João Figueiredo, o último presidente do regime militar, 31 mil trabalhadores haviam participado da empreitada. Dez anos de desmatamento, abertura de estradas e construção civil haviam produzido um feito inédito: o recorde mundial em terraplanagem. Nunca tanta terra fora movimentada numa mesma obra.
Quando o lago começou a ser preenchido, 2,5 milhões de m3 de madeira em tora foram para debaixo d’água. Estima-se que na ocasião o volume representava cerca de 10% de toda a extração madeireira na Amazônia Legal ao longo de um ano. O governo chegara a planejar o corte das árvores antes da inundação, mas a empresa contratada não tinha experiência, embrulhara-se num escândalo de corrupção e apenas 10% da mata foi removida. Uma floresta praticamente intocada submergiu.
Um grupo de pesquisadores do Instituto Evandro Chagas (IEC), entidade científica vinculada ao Ministério da Saúde, deslocou-se para a região com o objetivo de acompanhar o impacto sanitário da obra. O trabalho consistia em capturar mosquitos, classificá-los e identificar as doenças que cada espécie podia transmitir. O virologista Pedro Fernando da Costa Vasconcelos fazia parte da equipe. “A gente estudou a região antes, durante e após o enchimento do lago reservatório”, conta Vasconcelos na sala de seu apartamento em Belém. “Antes do preenchimento dos lagos, nós recolhíamos de 10 mil a 20 mil mosquitos por campanha. Depois, a população explodiu. Na campanha seguinte, recolhemos mais de 1 milhão.”
Um estudo sobre Tucuruí publicado em 2000 pela Coppe (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro) constatou um aumento extraordinário na população de Anopheles, gênero por vezes chamado no Brasil de mosquito-prego, responsável pela transmissão da malária. “Foi tão intenso que em uma única noite de coleta foram capturados aproximadamente 10 mil anofelinos”, afirma o estudo. De 9 652 insetos coletados antes do preenchimento do reservatório, o número saltou para 68 532 depois que as águas cobriram a floresta. A espécie Anopheles darlingi foi registrada em todos os pontos de coleta. Dentre os muitos mosquitos anofelinos conhecidos, é esse o mais eficiente vetor da malária humana.
Eles não foram os únicos mosquitos a se multiplicar em Tucuruí. Outro gênero, o Mansonia, também teve um crescimento assustador. “Calamidade pública”, declararia mais tarde uma comissão convocada para avaliar a gravidade do problema. A situação estava entre os “efeitos ambientais indesejáveis motivados pela formação do reservatório”.
O quadro adquiriu contornos de praga bíblica. O mosquito mansônia é hematófago, ataca em enxames e, com hábitos crepusculares, alimenta-se ao cair da tarde. A vida de 1 500 famílias estabelecidas num trecho da margem esquerda do lago se tornou inviável. As pessoas e seus animais domésticos não tinham meios de lidar com os ataques diários. Segundo a Coppe, no início da noite e ao longo de uma hora, cada pessoa era atacada por uma média de quinhentos mosquitos. A população foi forçada a abandonar suas casas em busca de áreas menos infectadas.
Do variado catálogo de transtornos sociais, econômicos e ambientais causados pela obra, no âmbito da saúde pública o efeito mais grave da construção de Tucuruí foi o que a Coppe descreveu como “um crescimento explosivo da malária” no município. No relatório de quase trezentas páginas, o adjetivo explosivo é o termo de predileção para caracterizar o comportamento dos fatores de risco sanitário associados à obra. O que podia dar errado deu, e em escala alarmante.
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tabulou casos de malária no município de Tucuruí desde 1962. Os números começam a inchar a partir de 1975, com o início das obras pesadas. De 251 casos naquele ano, pula-se para 1 127 em 1976 e para 3 387 em 1977, e vai assim até atingir o pico de 10 mil casos em 1984, ano em que a usina é inaugurada.
Seria correto relativizar esses resultados, uma vez que obras dessa magnitude acarretam um aumento considerável da população local. Ocorre que o índice de casos por mil habitantes – o IPA, Incidência Parasitária Anual – também cresce significativamente. Boa expressão do grau de contaminação da população por malária, esse índice ali era de 29,57 casos em 1970 e, dez anos depois, saltara para 60,37 – regiões com IPA acima de 30 são consideradas de alto risco. Outros dois municípios à beira do reservatório “apresentavam na campanha de 1986 uma situação calamitosa em termos de malária”, apontou o relatório da Coppe. Em 1989, a comissão chamada a estudar a situação observava ainda: “Quanto à malária, há vários tipos, e em cada família há duas ou três crianças com a doença.”
“Nesse aspecto, Tucuruí foi um desastre”, resume a farmacêutica Marinete Marins Póvoa, especialista em controle de malária. Doutora pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, um dos grandes centros de medicina tropical do mundo, Póvoa foi durante muitos anos pesquisadora no Instituto Evandro Chagas e hoje, já aposentada, é membro de um grupo do IEC que monitora os riscos de malária em outra grande hidrelétrica brasileira, a de Belo Monte.
A catástrofe de Tucuruí acendeu o sinal de alerta das autoridades para as consequências das grandes obras sobre a saúde pública. Relatórios de impacto sanitário se tornaram obrigatórios. O grupo de que Póvoa faz parte foi contratado para avaliar “o potencial malarígeno” da nova usina. Quando os pesquisadores chegaram a Altamira, município-sede de Belo Monte, analisaram os trabalhos que já haviam sido encomendados pelo Consórcio Norte Energia, operador da futura usina. “O projeto de Belo Monte foi alterado três vezes por razões geológicas, então os relatórios existentes estavam defasados. O último dizia que não tinha risco nenhum de malária e nós discordamos. Tinha, sim.”
Isso aconteceu em 2007. Durante dois anos, Póvoa e seus colegas levantaram a situação de cinco municípios na área de influência da obra. “A ideia desse tipo de trabalho é a seguinte: identificar onde estão os vetores – os mosquitos –, de que espécie eles são, onde estão e quantos são os casos de malária, o que acontecerá quando os lagos forem criados e a terra for revolvida para abrir canteiros de obra e ruas, quantos postos de saúde deverão ser construídos e em que lugar, quantos novos trabalhadores virão para cada um dos municípios e quais protocolos de segurança deverão ser adotados. Por exemplo: todo novo funcionário deve fazer um exame e, se estiver infectado, não entra, tem que se curar antes.”
As máquinas de Belo Monte começaram a trabalhar em 2011, e as obras se estenderam até 2019. Ao contrário do que ocorreu em Tucuruí, a propagação da malária foi controlada. “A incidência foi baixíssima, houve época em que chegou a zero”, diz Póvoa, que ainda hoje faz duas visitas anuais a Altamira para monitorar a situação.
Antes do início da obra, o sistema de informação de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde produziu uma tabela com os casos de malária registrados entre 2008 e 2019 nos cinco municípios lindeiros da hidrelétrica. Em 2008 – antes de as máquinas começarem a trabalhar, portanto –, 1 685 pessoas haviam contraído malária em Altamira. Em 2019, ano em que a última turbina de Belo Monte entrou em funcionamento, registraram-se 559 casos, uma queda de dois terços. O IPA em 2008 era de 17,4; em 2019, caíra para 4,9.
As estatísticas do município de Anapu chamam ainda mais atenção. Com um IPA de 36,4 em 2008, os casos aumentam muito em 2011, primeiro ano da obra. A partir daí, a queda é abrupta até chegar a 0,1 em 2019, ano em que só duas pessoas contraíram malária no município. Em 2008, 707 haviam adoecido.
“É preciso entender o ciclo de cada uma das espécies de mosquito que transmitem malária”, explica Póvoa. Conhecer sua história natural, saber do que gosta e o que não tolera: “Do ovo até a pupa – esse período que nós chamamos de imaturo –, todas as espécies precisam de água para se desenvolver. Agora, espécies diferentes preferem condições diferentes. A nossa espécie mais eficiente em transmitir a malária gosta de água limpa, sombreada e com correnteza muito leve.”
Nada disso foi levado em consideração em Tucuruí. Ao decidir submergir uma floresta três vezes e meia maior do que a cidade de Nova York, a Eletronorte, operadora da hidrelétrica – e, duas décadas mais tarde, sócia majoritária de Belo Monte –, produziu um desastre ambiental. O material inundado começou a se decompor, liberando dióxido de carbono e metano, gases que provocam o efeito estufa. Esse processo, chamado de eutrofização, aumenta a concentração de nutrientes na água e estimula a proliferação de plantas aquáticas. Para os mosquitos, é o paraíso.
Esse triste espetáculo de uma floresta afogada e convertida no que a Coppe descreve como “paliteiros” – árvores submersas, mortas e de pé – oferece uma lição sobre as consequências que grandes distúrbios no meio ambiente são capazes de provocar. A eliminação da floresta; a alteração do curso de rios; a criação de novos corpos d’água; a perda de biodiversidade; a introdução de espécies exóticas; o deslocamento de populações inteiras “sem experiência cultural com a malária” (e tampouco com outras doenças do trópico úmido) – tudo isso configura um cenário de risco sanitário agudo.
De um lado, houve imprevidência, pois existiam as condições para prever que a proliferação maciça de plantas aquáticas em ambientes com as características daquele de Tucuruí provocaria uma explosão dos casos de malária, e não só: como mostra o relatório da Coppe, aumentaram também as ocorrências de esquistossomose e de filarioses várias, tais como elefantíase e doenças ligadas à qualidade da água (cólera e gastrenterite, por exemplo). A experiência de Belo Monte comprovou que é possível evitar alguns desses problemas adotando-se medidas profiláticas orientadas pela melhor ciência do momento.
Mas como se adiantar ao desconhecido?
Tucuruí, Arumateua, Caraipé – esses são os nomes de três novos vírus descobertos pelos cientistas do IEC durante estudos epidemiológicos realizados no entorno da usina de Tucuruí. Os três integram uma única família de arbovírus, nome que se dá aos vírus transmitidos por artrópodes tais como insetos. Em artigo de 2001 publicado nos Cadernos de Saúde Pública, Pedro Vasconcelos e outros cinco autores relatam que, durante a construção da represa de Tucuruí, foram isolados 27 novos arbovírus. O título do trabalho – Gestão Imprópria do Ecossistema Natural na Amazônia Brasileira Resulta na Emergência e Reemergência de Arbovírus – estabelece uma relação direta entre distúrbios ecológicos e o surgimento de novos e antigos microrganismos com potencial patogênico.
Vasconcelos, um paraense que se doutorou pela Universidade Federal da Bahia e, depois de um período de pesquisas nos Estados Unidos, voltou logo para o seu estado natal – de onde nunca mais quis sair, apesar dos inúmeros convites para trabalhar em universidades brasileiras e norte-americanas –, liderou durante anos a Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do IEC, instituição da qual se tornaria diretor em 2014.
Entre 1983 e 1989 coube à seção inventariar os arbovírus presentes na floresta primária da região de Tucuruí, compreender seus ciclos e avaliar os riscos para a população estabelecida às margens da barragem. O trabalho de campo não só revelou a emergência de microrganismos até então desconhecidos da ciência, como detectou a presença de vírus que, embora existentes em outras partes do continente, ainda não haviam sido identificados ali. Os pesquisadores especularam que o surgimento dessas espécies estranhas ao lugar era consequência direta da alteração do meio ambiente. O novo lago atraiu mosquitos que até então não encontravam condições favoráveis para se reproduzir na região. Com eles, foram trazidos os vírus de que são vetores.
Numa tabela desse artigo de 2001, Vasconcelos e colegas ordenam em colunas paralelas diferentes arbovírus amazônicos, seus vetores, os hospedeiros e dados patogênicos. Por exemplo: “Vírus: Tacaiuma. Vetor: Aedes scapularis e outras duas espécies. Hospedeiro: macacos. Infecta humanos? Sim.”
Outra tabela relaciona os arbovírus associados a doenças humanas que já haviam sido isolados na Amazônia até aquela data. O vírus da dengue e o da febre amarela aparecem junto de outros dos quais a maioria de nós nunca ouviu falar: Alenquer, Bussuquara, Guama, Mucambo, Murutucu, uma rica coleção de patógenos causadores de febres, erupções cutâneas, hemorragias e encefalites.
O laboratório que Vasconcelos chefiou por dezesseis anos já isolou mais de duzentos novos tipos de arbovírus, um recorde mundial. Ele próprio participou da identificação e descrição de uma centena deles. Afora sua diligência e a de seus colegas, o que pode explicar o feito é a espantosa biodiversidade amazônica de vetores e hospedeiros, de insetos que transmitem os vírus e vertebrados alados e arbóreos que os abrigam; a floresta coloca à disposição de cada um deles uma variedade incontável de nichos ecológicos, de tal modo que forçosamente todos acabam por encontrar as condições ideais para seu nirvana particular. “Desses duzentos e tantos arbovírus isolados, uns 37 são patogênicos”, diz Vasconcelos, “e 23 deles são estritamente amazônicos. É o que nós chamamos de vírus enzoóticos, porque vivem num ciclo fechado entre os vetores – os insetos hematófagos – e os vertebrados silvestres, seus hospedeiros. Lá eles estão em equilíbrio e geralmente não acometem humanos.”
Até que acontece um acidente, substantivo empregado aqui numa acepção quase técnica. Como mostra o estudo de 2001 de que Vasconcelos é o autor principal, a infecção humana é quase sempre um acidente biológico. O hábitat natural da imensa maioria dos arbovírus é a floresta. Lá, as várias espécies se perpetuam segundo ciclos complexos e pouco conhecidos que envolvem inúmeros vetores e hospedeiros.
O homem não faz parte desse cenário – ou, ao menos, não era para fazer – até o momento em que se produz um encontro fortuito. Os garimpeiros destroem as barrancas de um igarapé. Os madeireiros derrubam a floresta. Chegam os bois. Os tratores erguem uma barragem. Os hospedeiros naturais – macacos, pássaros, morcegos, preguiças, roedores, marsupiais – fogem ou são extintos, e o vírus, obedecendo ao imperativo da própria perpetuação, salta para uma nova espécie apta a abrigá-lo.
Um estudo de 2015 feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) concluiu que, “para cada 1% de floresta derrubada anualmente na Amazônia, há um aumento de 23% na incidência de malária e de 8% a 9% na de leishmaniose”, uma doença que, se não tratada, causa desfigurações e pode levar à morte.
Com exceção dos vírus que provocam a febre amarela urbana, a febre da dengue, a chicungunha, a zika e a febre do oropouche – patógenos urbanos cujo hospedeiro preferencial é o homem –, nenhum dos outros arbovírus amazônicos precisaria de nós para se reproduzir. Somos tangenciais para a sobrevivência deles. Contudo, se estivermos no lugar errado na hora errada (lugar certo e hora certa da perspectiva do vírus), se reduzirmos os reservatórios naturais de hospedeiros – aquele conjunto de espécies em que patógenos residem sem causar doenças graves –, então o salto poderá ocorrer.
“Não conhecemos nem 2% dos vírus do Brasil”, disse Vasconcelos ao jornal O Globo em fevereiro deste ano. Àquela altura, na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ele começava a ser procurado pela imprensa para nos ajudar a compreender a dimensão da pandemia que se avizinhava. Cinco meses antes, em setembro de 2019, em seu escritório de trabalho em Belém, ele havia dito: “Não tenho ideia do número de vírus na Amazônia. Imagino que sejam milhares. Nós não sabemos.”
O capítulo dedicado a arboviroses no minucioso relatório elaborado pela Coppe sobre Tucuruí conclui da seguinte forma: “A maioria dos arbovírus isolados na região não demonstrou até o presente capacidade de afetar seres humanos. Entretanto, como os estudos foram encerrados poucos anos após o enchimento do lago, o perigo de arboviroses continua presente, pois tanto vetores como reservatórios quanto pessoas continuam em contato.”
Convém mencionar uma última tabela do artigo de 2001 escrito por Vasconcelos e colegas. Nela, os pesquisadores arrolam espécies virais, seus prováveis fatores de emergência e a associação dessas espécies com doenças humanas. Por exemplo: “Espécie: Dengue. Prováveis fatores de emergência: Urbanização crescente nos trópicos e controle deficiente dos mosquitos. Doença em humanos: Sim, epidêmico.” Ou: “Espécie: Febre amarela; Prováveis fatores de emergência: Urbanização nos trópicos, desmatamento e baixa cobertura vacinal; Doença em humanos: Sim, epidêmico.” Ao lado de vírus que reconhecemos, a tabela inclui outros que nos são totalmente estranhos, a nós, leigos: Triniti, Gamboa, Anopheles A e Changuinola. Fatores de emergência? Nos quatro casos, “alagamento para criação de barragens” (desmatamento e mineração também são fatores para o Changuinola). Na coluna que responde à pergunta sobre causarem doenças em humanos, aparece escrito: “Ainda não.”
Transbordamento é o termo que descreve o evento no qual um patógeno salta de um animal para o seu primeiro hospedeiro humano. A pandemia causada pelo Sars-CoV-2 nos familiarizou com moléstias dessa natureza, as chamadas doenças zoonóticas, aquelas que passam de animais não humanos para humanos. Raiva, doença da vaca louca, carbúnculo (ou antraz), Sars, zika, peste bubônica – todas nos chegaram via reino animal. Mais de 60% das cerca de 400 doenças infecciosas identificadas desde 1940 são zoonóticas.
Segundo o virologista Dennis Carroll, criador de uma unidade de monitoramento de pandemias para o governo dos Estados Unidos – o Programa de Ameaças Pandêmicas Emergentes, desativado por Trump em 2019 –, o maior fator preditivo de eventos de transbordamento é a mudança no uso da terra, isto é, a transformação de ambientes naturais em áreas destinadas à agricultura e especialmente à pecuária. A velocidade desses transbordamentos está em franca aceleração. Hoje eles ocorrem numa frequência de duas a três vezes maior do que há quarenta anos. Ebola, Aids e Covid-19 são doenças diretamente ligadas a perturbações do meio ambiente. Estamos avançando mais e mais por zonas ecológicas em que antes não penetrávamos.
“No outono de 1998, suinocultores malaios começaram a desenvolver uma doença grave caracterizada por febres, confusão mental e convulsões. Alguns logo entraram em coma. Entre setembro e maio, o surto infectou 265 pessoas, matando 105 delas, uma taxa de letalidade de quase 40%.” Essa passagem faz parte de um longo artigo publicado pelo New York Times em junho deste ano. De autoria do jornalista Ferris Jabr, traz o seguinte título: Como a Humanidade Destampou um Dilúvio de Novas Doenças.
O epicentro do surto era o vilarejo de Kampung Sungai Nipah, a 75 km da capital, Kuala Lumpur. A rapidez com que as pessoas infectadas adoeciam era espantosa. De um dia para o outro, homens jovens e saudáveis deixavam de andar, outros perdiam a capacidade de falar. Exames revelaram a existência de um processo inflamatório no cérebro dos infectados. Segundo uma reportagem da NPR, a rádio pública norte-americana, “a doença era tão mortal quanto o Ebola, mas, em vez de atacar os vasos sanguíneos, atacava o cérebro”.
Epidemiologistas e autoridades sanitárias atribuíram a moléstia a um patógeno conhecido, o vírus da encefalite japonesa (JEV), um arbovírus da mesma família da febre amarela e da dengue. Seu vetor é o mosquito. Um virologista que fazia pós-doutorado na Universidade da Malásia desconfiou do diagnóstico. Embora os sintomas em Nipah se assemelhassem muito à encefalite japonesa, Kaw Bing Chua e um colega neurologista fizeram uma observação crucial: muçulmanos não estavam adoecendo. Num país em que o islamismo é a religião oficial e 61% da população professa a fé, não fazia sentido.
Um terço das famílias em Nipah já havia perdido alguém para a doença. As autoridades tranquilizavam a população, informando que campanhas para erradicar o mosquito transmissor já estavam em curso e que em breve o surto seria controlado. Chua se desesperou. A doença se espalhara para outras províncias e chegara a Cingapura, cidade-estado separada da Malásia por um estreito de 1 km de largura. Meses antes, seu superior o desencorajara a seguir pesquisando o surto que afligia o vilarejo. O patógeno havia sido identificado, dizia; já não se tratava de uma questão científica, mas de um problema de saúde pública do qual as autoridades estavam cuidando.
Chua voltou à carga. Mencionou o enigma da aparente imunidade dos muçulmanos e implorou a seu chefe que lhe permitisse levar material colhido de pacientes até um centro norte-americano especializado em pesquisa de arboviroses, onde teria acesso a equipamentos de análise mais avançados. Tão logo recebeu a autorização, decidiu não perder tempo. A situação era urgente demais para seguir todos os protocolos de segurança e quarentena que regem o transporte de agentes patogênicos. Chua simplesmente acondicionou as amostras na bagagem de mão e voou para os Estados Unidos.
Ao pousar, foi direto para o laboratório e inseriu a lâmina sob um poderoso microscópio de elétrons inexistente na Malásia. Quando a imagem se esclareceu, Chua sentiu “um frio na espinha”: “Meu Deus, é um paramixovírus!” O que o cientista tinha diante de si era um novo vírus da família Paramyxoviridae, a mesma da caxumba e do sarampo, duas das doenças mais contagiosas que conhecemos. Como esses vírus afetam as vias respiratórias, a transmissão pode se dar por contato direto de gotículas de saliva ou perdigotos de pessoas infectadas. De origem zoonótica, o processo de infecção não tem a participação de insetos. O transbordamento ocorre quando algum animal de criação passa o vírus para um humano. Muçulmanos não consomem carne suína nem lidam com porcos.
Chua acabara de fazer uma descoberta de consequências potencialmente devastadoras: um vírus de alta letalidade transmissível por via área. Não estava claro se a doença continuava em fase de transmissão animal-humano, mas era questão de tempo até que infecções de pessoa a pessoa começassem a ocorrer. “Chua correu para o telefone e ligou para as autoridades sanitárias de seu país: ‘Parem de lutar contra os mosquitos. Está vindo dos porcos’”, relata a reportagem da NPR.
O que se seguiu foi a maior campanha de abate de animais da história da Malásia. O governo convocou o Exército. Mais de 1 milhão de porcos foram jogados vivos em valas abertas e abatidos a tiros, um espetáculo dantesco. “Os porcos berravam, dava para ver as lágrimas escorrendo pelo rosto deles”, contou um funcionário do serviço fitossanitário malaio que tomou parte na matança.
As quatro décadas que antecederam o surto em Nipah foram um período de grande crescimento econômico na Malásia. Vastas extensões de floresta desapareceram em razão da exploração madeireira ou de queimadas, abrindo terreno para seringais e plantações de palma. Em 1966, 64% da península malaia era coberta por florestas; em 1990, a cobertura já estava em menos de 50%.
No ano anterior à emergência do novo microrganismo, que seria batizado de vírus de Nipah (NiV), a Malásia sofreu queimadas extensas provocadas por ação humana. Tanta floresta foi incinerada que, durante meses, uma camada perene de névoa particulada ofuscou o Sol, o que diminuiu a atividade de fotossíntese das plantas sobreviventes. As árvores frutíferas da floresta deixaram de produzir seus frutos.
Morcegos frugívoros de vida até então silvestre foram obrigados a se aproximar de vilarejos para buscar alimento nos pomares. Morcegos são reservatórios naturais de vírus. Um desses animais provavelmente pousou no galho de uma árvore que fazia sombra num chiqueiro de Nipah. Ali, urinou ou deixou cair um pedaço de fruta embebido de saliva. Um porco espremido entre centenas de outros porcos estava por perto e se contaminou.
O que seria um evento sem maiores consequências antes da produção fabril de proteína animal gerava agora as condições propícias para o transbordamento. Um vírus hospedado em um só porco não terá grande oportunidade para saltar de espécie. Já se viver entre centenas de animais comprimidos em meio a secreções e dejetos, sim. Aquele porco, hospedeiro secundário, começou a espalhar o vírus para o resto da vara. Dali a dias, alguns desses animais foram abatidos. Sangue espirrou, vísceras entraram em contato com algum humano – e o acidente biológico aconteceu.
Foram necessários mais de dez anos para compreender o processo de transmissão zoonótica descrito acima. Se o enredo soa familiar, é porque ele deu origem a um filme de 2011, Contágio, dirigido por Steven Soderbergh. Entretanto, ao contrário do que se desenrola no cenário distópico da fita, na Malásia a ação diligente de um virologista que sequer concluíra a sua formação conseguiu evitar que um surto local se transformasse numa crise sanitária de dimensões planetárias. Ainda assim, como mostra a reportagem da NPR, já ocorreram dezesseis novos surtos de Nipah desde 1999, na Índia, em Bangladesh e nas Filipinas. “E há sinais de que o vírus está se tornando mais perigoso. No surto malaio, a taxa de letalidade foi de cerca de 40%, e o vírus não parece ter passado de pessoa a pessoa. Contudo, mais recentemente o Nipah matou 70% dos infectados e foi transmitido tanto de animais para humanos como entre pessoas” – no caso, transmissão pelo compartilhamento de sucos de frutas infectadas por morcegos.
Setenta por cento é uma taxa de letalidade superior à do vírus Ebola, que mata cerca de 50% das pessoas infectadas. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano classificou o Nipah como um agente categoria C, nomenclatura reservada a patógenos emergentes que, graças à sua disponibilidade, à alta letalidade e à facilidade de disseminação, podem ser empregados em atos de bioterrorismo. Para a Organização Mundial da Saúde, o NiV é “um dos patógenos da lista de ameaças epidêmicas que demandam investimentos urgentes em pesquisa e desenvolvimento” (testes diagnósticos, medicamentos, vacinas). Em maio de 2016, apenas outros quatro vírus, todos zoonóticos, compunham a reduzida lista. Um deles, o Zika, é nosso velho conhecido. Outro, o vírus de Lassa, também altamente letal, tem parentes próximos na Amazônia.
Em meados de abril, a ecóloga Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, participou de um seminário online promovido pela Academia Brasileira de Ciências (ABC). O formato era apropriado ao tema: confinados em suas casas por causa da doença zoonótica que nos aflige a todos, palestrantes e espectadores se reuniam no único auditório sensato em tempos pandêmicos – a sala virtual do aplicativo de videoconferência Zoom – para tratar da relação entre doenças emergentes e distúrbios ecossistêmicos.
Bustamante projetou um quadro para ilustrar como o risco de doenças infecciosas emergentes varia de acordo com a paisagem. Quatro colunas paralelas de cores diferentes ocupavam o slide. Da esquerda para a direita, a primeira indicava área de floresta (verde), seguida de agricultura incipiente (creme), agricultura e criação de animais (laranja) e, por fim, criação intensiva de animais (amarelo). Lido como uma linha do tempo, o esquema mostrou de que maneira o uso da terra se modifica à medida que o homem se apropria dela para atividades produtivas – a floresta é aberta para dar lugar a pequenas roças, as roças se tornam maiores e a elas se juntam animais de criação, até que, por fim, a floresta desaparece e é substituída por pastos. Um traço sinuoso atravessava a imagem de lado a lado. Começava no pé da coluna verde (floresta), crescia como uma onda até o campo creme (lavoura de subsistência), refluía suavemente na área laranja (agricultura e criação de animais) e voltava a crescer pelo campo amarelo (criação intensiva de animais) como uma segunda onda, agora maior, até encostar na borda superior direita do quadro. O traço representava o “risco hipotético de zoonoses emergentes”.
A mensagem é clara: a preponderância das doenças acompanha a transformação da paisagem. Mais precisamente: acompanha sua simplificação.
“A relação entre biodiversidade e doenças emergentes é complexa”, explica Bustamante. “O número de microrganismos na Terra ultrapassa toda a biodiversidade restante” – há mais seres microscópicos do que a totalidade da vida que podemos enxergar. Estima-se que existam trilhões de espécies de vírus no planeta, e, como disse Alan Burdick, repórter do New York Times, eles infectam morcegos, feijões, besouros, amoras, mandioca, mosquitos, batatas, pangolins, carrapatos e o diabo-da-tasmânia. “Desenvolvem cânceres em pássaros e fazem com que as bananas fiquem pretas. Desses trilhões, apenas algumas centenas de milhares de tipos são conhecidas e menos de 7 mil têm nome. Sabemos que apenas 250, incluindo o Sars-CoV-2, possuem os mecanismos para nos infectar.”
Compreender como tudo isso se relaciona requer uma avaliação de um ponto de vista ecológico e evolutivo, diz Bustamante. As doenças também têm sua ecologia. Assim como nós, essa infinidade de microrganismos buscará a perpetuação da espécie e, caso seja necessário, ocupará o nicho que se abrir à sua frente. “Riqueza de espécies aumenta a riqueza de hospedeiros. Isso significa que a manutenção da biodiversidade reduz a prevalência dos agentes patogênicos e aumenta o efeito de diluição das doenças”, afirma.
Se sumirem os pangolins, os besouros, os morcegos, as preguiças, os macacos ou o diabo-da-tasmânia, o vírus tenderá a saltar para um novo hospedeiro. “Estamos dando uma oportunidade para que eles expandam seus horizontes”, diz o escritor David Quammen, especialista em história natural das pandemias. Numa entrevista ao jornalista Gustavo Faleiros para a plataforma InfoAmazonia, Quammen toma como exemplo um vírus hipotético que acaba de transbordar para a espécie humana: “Talvez ele estivesse numa situação difícil, vivendo dentro de uma espécie ameaçada de extinção. Uma oportunidade de pular para nós equivale a ganhar na loteria evolutiva. Ele terá se hospedado no mamífero de grande porte mais interconectado e abundante de todo o planeta. Se nos infectar e se tiver capacidade de passar de pessoa a pessoa, vai se espalhar por toda parte. Para nós, é uma situação miserável, é uma pandemia, é a morte. Para ele, é o triunfo.”
Como nos casos do Nipah e do Sars-CoV-2, o patógeno pode nos alcançar por espécie interposta, como quem chega ao destino fazendo escala: do hospedeiro primário para o hospedeiro secundário e deste para o criador de porcos ou para o consumidor de carne de animais silvestres que faz compras num mercado úmido.
A degradação ambiental favorece o salto para espécies generalistas, as quais abrigam 75% de todos os vírus zoonóticos conhecidos. Dotadas de grande capacidade de adaptação, essas espécies tendem a prosperar quando perturbamos seu hábitat natural e extinguimos seus predadores. É o caso dos roedores ou do Aedes aegypti, na origem um mosquito silvestre que hoje habita confortavelmente as nossas cidades e as nossas casas. Da década de 1990 para cá, assistimos à emergência ou reemergência de oito vírus epidêmicos ou pandêmicos: H5N1 (gripe aviária), Sars-Cov, H1N1 (pandemia de gripe suína), Ebola, Mers-CoV, Zika, Chikungunya e Sars-CoV-2 (pandemia de Covid-19). É uma aceleração sem precedentes desse tipo de acontecimento.
Em decorrência dos distúrbios que provocamos no meio ambiente, animais nos infectam e são infectados – o caminho das doenças tem mão dupla, como mostrou Mercedes Bustamante em sua apresentação no webinário na Academia Brasileira de Ciências. O surto do Ebola na África Ocidental entre 2013 e 2016 – evento cuja origem alguns pesquisadores atribuem a um menino de 2 anos que decidiu brincar no oco de uma árvore habitada por morcegos – matou 95% dos gorilas e 77% dos chimpanzés, levando efetivamente à extinção dessas espécies naquela região. Desde os anos 1990, um terço dos símios que habitam o continente africano foi aniquilado.
Dada a ação humana em curso na Amazônia, o bioma é um dos laboratórios privilegiados do planeta para a ocorrência de acidentes biológicos. Em modelos desenvolvidos para identificar focos globais de novas doenças zoonóticas, a região é um hotspot. Nos últimos quinze anos, pelo menos nove moléstias causadas por arbovírus emergiram ou reemergiram nas Américas, algumas delas conhecidas, a exemplo da chicungunha e da zika, outras ainda estranhas para a maioria de nós, como a doença febril causada pelo vírus Itaqui.
Um dos enigmas que intrigam os especialistas é o porquê de a região ainda não ter produzido uma doença pandêmica. “Não tenho uma resposta”, diz David Quammen. “A Amazônia está cheia de espécies animais e, portanto, está repleta de vírus. Por que, então, ainda não ouvimos falar de transbordamentos para humanos? Claro, o fato de que ainda não aconteceu não significa que deixará de acontecer.”
A floresta é o maior reservatório de arbovírus do planeta, grupo de que o pesquisador Pedro Vasconcelos é um dos grandes especialistas mundiais. Há décadas ele vem alertando para o risco de urbanização ou reurbanização de certas doenças que, até pouco tempo atrás, eram essencialmente silvestres. É o caso da febre amarela. Vasconcelos estava certo nas suas previsões. Em 2000, a doença voltou a se manifestar em cinco cidades brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Campinas. Entre 2016 e 2018, novos surtos com mais de 2 mil casos e cerca de setecentas mortes atingiram principalmente a região da Mata Atlântica, onde não havia registros da doença desde a década de 1940. Segundo um estudo do qual Vasconcelos é o primeiro autor, tudo indica que alterações na temperatura e no regime de chuvas ocorridas no contexto das mudanças climáticas contribuíram para a dispersão do vírus. Em 2000, por exemplo, o estado de Goiás experimentou um aumento de 2ºC acima da sua média histórica. As chuvas também foram mais intensas; nos dois primeiros meses do ano, choveu 25% a mais do que a mediana dos vinte anos anteriores.
São condições que favorecem o mosquito Haemagogus. Vetor da febre amarela, ele é silvestre e vive na copa das árvores. “O desmatamento é catastrófico do ponto de vista das epidemias de doenças tropicais”, diz o médico infectologista Joaquim Seabra, que há anos segue com atenção as previsões de Pedro Vasconcelos. Queimadas são igualmente arriscadas. “Quando você taca fogo na floresta, duas coisas podem acontecer”, explica Vasconcelos. “Muitos mosquitos vão morrer, outros vão voar ou vão ser levados pelo vento.” Esses últimos acabam se avizinhando dos ajuntamentos humanos. Hoje a febre amarela está naorla das grandes cidades.
Como mostra o artigo de 2001 que Vasconcelos coescreveu, distúrbios ambientais levam doenças para dentro da floresta, não apenas para fora dela. No início da década de 1990, garimpeiros começaram a entrar na terra Yanomami. Muitos vinham de Serra Pelada, onde o ouro já se esgotara; não havia mais razão para permanecerem naquela chaga a céu aberto. A profunda transformação do ambiente produzida pelo garimpo favorece vetores de doenças como malária e febre amarela. “O mosquito estava na mata, na dele, vivendo uma vidinha calma, quando de repente: ‘Opa, chegou o restaurante!’”, diz Marinete Marins Póvoa. “O garimpo abre coleções hídricas propícias para o ciclo do mosquito. De uma hora para outra ele não precisa mais ir atrás do animal pequeno, porque agora tem uma espécie maior à disposição.”
Os garimpeiros levaram para a reserva indígena doenças que nunca haviam sido diagnosticadas entre os yanomamis, como malária, hepatite B/D e febre amarela. Em relação a essa última, em 1991, um ano depois da invasão, as populações nativas enfrentaram uma epidemia da doença. Desde então, segundo o artigo de Pedro Vasconcelos sobre a emergência de doenças na Amazônia, o vírus tem sido diagnosticado com frequência entre os yanomamis, manifestando-se com uma taxa de letalidade alta. A Covid-19 segue o mesmo roteiro. O governo tem feito muito pouco para evitar que forasteiros – madeireiros, garimpeiros e mesmo profissionais de saúde infectados – levem o novo coronavírus para as aldeias.
O mundo das finanças popularizou a expressão cisne negro. Um cisne negro seria um evento que chega como um susto, causa um impacto imenso e, analisado retrospectivamente, parece quase óbvio – os sinais sempre estiveram ali, mas foram negligenciados. Segundo os que estudam o fenômeno, essa previsibilidade a posteriori, feita com o olho no retrovisor, seria uma “falácia narrativa”. O que é óbvio depois não era óbvio antes. O Onze de Setembro seria um cisne negro. Ou Pearl Harbor. E também a atual pandemia.
Contudo, em relação a essa última não se pode falar em falácia narrativa com o mesmo desembaraço. Fazia décadas que epidemiologistas vinham alertando os governos sobre uma situação semelhante à que estamos atravessando. Não se tratava de previsões generalistas. Em outubro de 2019 – dois meses antes de os primeiros pacientes darem entrada nas enfermarias de Wuhan com uma estranha doença respiratória –, a Universidade Johns Hopkins e a Fundação Bill e Melinda Gates organizaram um evento para simular as consequências de uma pandemia de coronavírus – os vídeos do encontro estão disponíveis. Durante os nossos meses de isolamento social, passou a circular intensamente nas redes um clipe de 2014 em que o presidente Barack Obama afirma, de maneira bastante assertiva, que “pode ocorrer e provavelmente ocorrerá entre nós uma doença mortal passível de ser transmitida pelo ar”, uma “nova cepa de gripe, como a espanhola”; por essa razão, ele criara o programa federal de vigilância pandêmica que Donald Trump desmantelaria em 2019.
Ninguém poderia prever esta pandemia específica, mas os especialistas não tinham dúvida de que a aceleração crescente das epidemias globais nos últimos anos levaria quase inevitavelmente a um evento pandêmico. Se um ataque terrorista da dimensão do Onze de Setembro era uma possibilidade, uma pandemia como a atual era uma quase certeza.
A partir desses elementos, o ambientalista Adam Sweidan cunhou a expressão elefante negro para descrever eventos como o protagonizado pelo Sars-CoV-2. Seria a união do susto causado pelo cisne negro com a tragédia do elefante na sala que todos teimam em não ver. O elefante negro é uma surpresa anunciada.
Pedro Vasconcelos não usa a expressão, mas evidentemente sabe quais elefantes negros começam a rugir na Amazônia. “Se fosse apresentar uma gradação em ordem crescente de gravidade para os vírus que mais me preocupam, eu diria: o Mayaro e o Oropouche.” Silvestres na origem, os dois microrganismos são exemplos de agentes de novas doenças associadas a distúrbios ambientais – desmatamento, abertura de áreas para pecuária e urbanização em regiões de fronteira.
O vírus Mayaro é transmitido pelo mesmo mosquito da febre amarela e tem os macacos e aves como hospedeiros principais. Pertence à mesma família e gênero do vírus Chikungunya e provoca sintomas parecidos – febre, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça. “Nos casos mais graves, as dores articulares e musculares são muito severas e praticamente impedem os pacientes de andar. É terrível. Ainda não tivemos nenhum óbito, talvez pelo número de infectados ainda ser pequeno”, diz Vasconcelos.
Nos últimos anos, o vírus foi responsável por epidemias localizadas que atingiram populações rurais na Amazônia. Contudo, de acordo com uma matéria da Agência Fapesp publicada no site da fundação em novembro de 2019, “recentemente, o patógeno ultrapassou as fronteiras da Floresta Amazônica e passou a circular também na região Sudeste. Dois casos foram registrados em Niterói (RJ) e outros dois em São Carlos (SP)”. Segundo a virologista Luiza Castro-Jorge, citada no artigo, o Mayaro é considerado um vírus emergente e, a qualquer momento, pode causar grandes surtos no Brasil.
O vírus Oropouche está no topo das preocupações de Vasconcelos por razões ligadas à história natural dos patógenos. “O manuseio errado dos ecossistemas pode ser bom ou ruim para os microrganismos, e em especial para os vírus”, explica. “Quando você destrói um nicho ecológico, o vírus pode desaparecer. Ele simplesmente não consegue saltar. Esse é um desfecho possível. O outro é ele conseguir dar o salto” – e, nesse caso, nossa espécie será o novo continente onde ele se espalhará.
O ciclo de reprodução do Oropouche não é bem conhecido, mas sabe-se que envolve preguiças, macacos e aves. Quando a floresta começou a ser derrubada, o vírus saltou. Contudo, diferentemente do Mayaro, cujo transmissor ainda não se urbanizou, o vetor do Oropouche vive bem entre nós, citadinos. Vasconcelos explica: “Não é um mosquito, é uma mosca. A gente chama de maruim, é um ser quase microscópico, mede 1 mm. E o problema é que os estudos experimentais feitos pelo CDC em Fort Collins, no Colorado” – o mesmo laboratório onde o virologista malaio identificou o vírus de Nipah –, “mostraram que o Oropouche pode infectar o Aedes mesmo com doses mínimas do vírus.”
Isso é importante, pois, quando se diz que há risco de uma doença do mundo tropical se urbanizar, o que se está dizendo é que o Aedes pode se tornar um vetor de transmissão.
No artigo sobre a emergência de novas doenças, Vasconcelos e seus colegas informam que o vírus Oropouche foi responsável por várias epidemias em quase todos os estados da região Norte e que, àquela altura, já infectara cerca de 500 mil pessoas. Os pacientes sofreram as agruras de uma doença febril clássica, com forte dor de cabeça, dor nos olhos e no corpo em geral. Cinco por cento dos casos evoluíram para uma patologia grave, meningite. “Aconteceu em Roraima, aqui no Pará, no Maranhão, no Tocantins, sempre em áreas recém-construídas ou periféricas, onde ainda tem muita mata”, informa Vasconcelos. “Em Manaus houve surtos imensos. Em Rondônia, em 1991, teve outra epidemia imensa de febre oropouche, eu fui lá investigar. As cidades de Ariquemes, Machadinho do Oeste e Ouro Preto do Oeste foram grandemente atingidas pela epidemia. Nós esperávamos que viessem outros surtos maiores na região. Eu até hoje não entendo por que isso não aconteceu. Minha opinião é que, mais cedo ou mais tarde, ocorrerá” – e, se ocorrer, tal como a dengue, a zika e a chicungunha, a febre oropouche se tornará mais uma doença zoonótica com a qual teremos de conviver nos ambientes urbanos infestados pelo Aedes.
Resta saber se nas selvas da Amazônia não se esconde algum vírus com a letalidade de um Ebola ou de um Nipah. “Não quero ser alarmista, mas acho que sim”, diz Vasconcelos. “Tome, por exemplo, os arenavírus, que causam febre hemorrágica e são transmitidos por roedores silvestres. Eles existem na Amazônia e já causaram surtos na Bolívia com os vírus Machupo e o Chapare; na Argentina foi com o vírus Junin, e na Venezuela, com o Guanarito, que ocorre na Amazônia deles e provoca a febre hemorrágica venezuelana.”
Em janeiro de 2004, um homem morreu numa pequena vila na província amazônica de Chapare, na região de Cochabamba, vítima do que viria a ser chamado de febre hemorrágica boliviana. “A letalidade dos arenavírus é muito alta”, explica Vasconcelos. “As pessoas morrem por causa dos sangramentos. Existe um correspondente dos arenavírus sul-americanos na África, o Lassa, causador da febre de Lassa, o que mostra que um dia a América do Sul e a África já foram um continente só.”
Nas franjas orientais da Amazônia, em maio de 2000, uma estudante maranhense de 19 anos que ajudava os pais na lavoura apresentou um quadro febril acompanhado de tremores, tosse e fortes dores musculares. Quatro dias depois, seus dedos começaram a ficar cianóticos, sintoma de baixa oxigenação. Levada para o hospital de Anajatuba, a 140 km de São Luís, em pouco tempo seu estado se deteriorou. Com taquicardia e diarreia forte, a moça foi transferida para a capital, onde faleceu trinta minutos depois de dar entrada no hospital. Nos meses seguintes, dois de seus parentes diretos, jovens lavradores, morreriam por insuficiência respiratória, respectivamente 24 e 48 horas depois de apresentarem febre, dores musculares e tosse seca.
Pesquisadores de diversas universidades e institutos brasileiros foram convocados para identificar a causa das mortes. Também publicado em 2001, um estudo do qual Pedro Vasconcelos é um dos autores conclui que a jovem morreu de uma síndrome pulmonar causada pela infecção de um novo hantavírus, família de patógenos virais que, tal como os arenavírus, são transmitidos por roedores silvestres. As doenças que provocam podem ser muito graves, e não há tratamento eficaz para as síndromes respiratórias de que são causa. Até 2006, pelo menos oito jovens entre 18 e 30 anos morreram da doença, vários deles depois do desmatamento de uma área de mil hectares. Os moradores relataram uma grande infestação de ratos na mata e no campo.
O risco de que um desses patógenos cause um grande surto é baixo, uma vez que seus vetores vivem em matas e áreas rurais ou periurbanas de pouca densidade demográfica. Outro obstáculo é que, embora a transmissão interpessoal seja possível, ela raramente acontece (ou simplesmente não ocorre, como no caso da maioria dos hantavírus sul-americanos, exceção feita ao vírus Andes, que está presente na Argentina e no Chile e ainda não foi detectado no Brasil). A infecção ocorre majoritariamente por contato com secreções de mamíferos contaminados, o que inclui inalação de aerossóis formados a partir de urina, fezes e saliva dos animais; assim, isolamento dos pacientes e medidas que diminuam a presença dos vetores em ambientes habitados costumam conter a transmissão. Contudo, é preciso ter em mente que parte desse quadro também descreve o vírus Ebola, cuja epidemia de 2013-16 se disseminou por cidades densamente povoadas, deixando mais de 11 mil mortos em pelo menos três países.
Vasconcelos faz uma ponderação: é possível que mais pessoas estejam sendo infectadas por arenavírus no Brasil e simplesmente não tenhamos a capacidade de identificar a causa. Assim como outros microrganismos causadores de febre hemorrágica, os arenavírus que afetam humanos são agentes infecciosos classificados pelo CDC norte-americano como nível de biossegurança 4, o mais alto de todos, reservado aos patógenos de alta letalidade, transmitidos pelo ar e passíveis de transmissão interpessoal. Trabalhos mais amplos com esse tipo de vírus só podem ser realizados em laboratórios de nível máximo de biossegurança – os chamados NB4 –, dos quais o Brasil não dispõe de nenhum.[1] Num artigo sobre o ressurgimento de arenavírus no país publicado no site da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, atualmente presidida por Vasconcelos, o pesquisador diz: “A limitação na investigação e estudos voltados para a detecção desses vírus faz supor que eles sejam mais raros do que na realidade devem ser.”
O campus principal do Instituto Evandro Chagas fica na cidade de Ananindeua, colada a Belém. Visto do alto, o conjunto tem a forma de uma estrela-do-mar: no centro, um polígono, quase um círculo, do qual se projetam, como tentáculos, cinco edificações baixas e compridas, além de uma sexta, menor, que dá acesso ao complexo. A área inclui uma linda mata recortada por trilhas por onde se pode caminhar. É um lugar aprazível e propício à reflexão.
O IEC é um dos centros brasileiros de referência para estudos de medicina tropical. Além dos vários laboratórios dedicados à pesquisa e à vigilância epidemiológica e sanitária, o terreno também abriga o maior centro de primatologia da América Latina em diversidade de espécies. Os serviços que o instituto prestou e presta à ciência são inestimáveis. Uma publicação em comemoração aos seus 80 anos, completados em 2016, arrola alguns deles: isolamento recorde de arbovírus; primeira identificação do hantavírus Anajatuba; primeiros isolamentos do vírus da dengue e de arenavírus no Brasil; pioneirismo na detecção de casos humanos de dengue, chicungunha e febre do Nilo Ocidental; estudos clínicos pioneiros da doença de Chagas na Amazônia; contribuição relevante para o reconhecimento do nível de contaminação por mercúrio nas populações do Norte do Brasil afetadas pelo garimpo. Em 2015, o IEC conduziu estudos pioneiros que levaram ao estabelecimento da conexão entre o vírus Zika e malformações congênitas como a microcefalia.
Entre funcionários da casa e terceirizados, mil pessoas circulam pelo campus todos os dias, 120 das quais são pesquisadores que realizam estudos de virologia, parasitologia (malária, Chagas etc.), bacteriologia (meningites, hanseníase etc.), micologia (doenças causadas por fungos) e saúde ambiental (doenças por contaminação de mercúrio, de agrotóxicos etc.).

Documentarista, é editor fundador da piauí. Dirigiu Santiago, Entreatos e Nelson Freire, entre outros
Socorro Azevedo, médica, e Jannifer Chiang, biomédica, trabalham na Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do IEC, a mesma que Pedro Vasconcelos dirigiu no passado. Numa tarde de novembro de 2019, as duas conversavam no gabinete de trabalho de uma delas. Através da janela, via-se o corredor estreito que separa a área acessível a visitantes da outra, o Laboratório de Biossegurança 3 (NB3), restrito a pesquisadores autorizados a entrar no único ambiente em que é permitida a manipulação de agentes de alto risco biológico.
Faz parte da rotina de Azevedo e Chiang manipular microrganismos perigosos, tarefa que conduzem com serenidade. São patógenos conhecidos. Temível é o que a floresta esconde: “É isso que me acorda de madrugada”, diz Azevedo, referindo-se à emergência de novas doenças oriundas da mata. “Trabalho o tempo todo com essa bomba-relógio”, Chiang reforça. “Existem arenavírus no Brasil. A gente não sabe o que eles podem provocar.”
No seu poema mais conhecido, o poeta galês Dylan Thomas aconselha o pai moribundo a não se entregar pacificamente à morte: Não entre mansamente nesta noite acolhedora./Grite, grite contra a morte da luz. A floresta talvez seja assim. Não desaparece sem que antes suas legiões de vírus, bactérias, parasitas e fungos se façam ouvir.
Fonte: Piauí



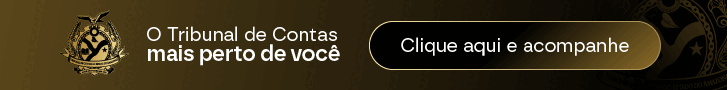
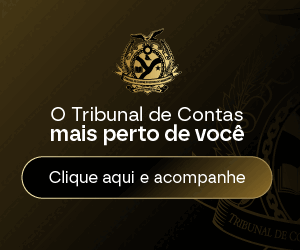















Comentários