Em 2019 e 2020, o desmatamento da Amazônia voltou a bater recordes. Um problema intensificado na década de 1970, durante a ditadura militar, e que havia sido combatido com sucesso entre 2004 e 2012, o desmatamento novamente ocupou as manchetes dos jornais em todo o mundo.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE -, liderança mundial no monitoramento dos trópicos, entre agosto de 2018 e julho de 2019 o desmatamento eliminou 10.129 km² de floresta, um crescimento de cerca de 34% em relação ao ano anterior. A tendência de alta se manteve entre 2019 e 2020.

Os dados do INPE mostram somente um retrato parcial. A floresta amazônica também sofre de uma grave tendência de degradação, o que muitas vezes não consegue ser detectado pelos satélites. E o desmatamento vem acompanhado de incêndios. Se em 2019 o fogo na Amazônia transformou o dia em noite em São Paulo, o bioma continuou a queimar em 2020.
A perda da Amazônia é usualmente retratada como uma ameaça para as sociedades em todo o mundo. Em primeiro lugar devido a seu papel no ciclo de carbono. A floresta absorve dióxido de carbono – CO2 – da atmosfera, armazenando-o na forma de biomassa. Ela contribuiu, com isso, desde a Revolução Industrial, para reduzir a velocidade de aumento das concentrações atmosféricas do gas.
Mas o desmatamento e os incêndios, além de comprometerem esse papel de sumidouro, liberam o carbono armazenado na floresta para a atmosfera na forma de CO2. A destruição da floresta acelera a taxa de aquecimento global: ao mesmo tempo em que diminui a absorção de CO2, elevam-se as emissões.
Outra questão apontada é a participação da Amazônia no ciclo hidrológico global. Na América do Sul e no Brasil, a perda da floresta ameaça as atividades econômicas e sociais. A floresta participa do sistema de monções do continente sul-americano. À exceção do Chile, todos os países da região se beneficiam da umidade emitida para a atmosfera pela floresta amazônica.
As chuvas, e portanto setores como a agricultura e a geração de energia, dependem da contribuição da floresta. A influência da Amazônia sobre a umidade e as correntes atmosféricas se estende para além dos trópicos, a outros continentes. A perda da floresta alteraria o regime de chuvas do Reino Unido ao Havaí, incluindo zonas agrícolas como o meio-oeste dos Estados Unidos e o sul da França.
O desmatamento leva à extinção da floresta. Consiste em uma ação resultante de um ponto de vista que não enxerga na floresta viva, de pé, qualquer valor para a sociedade. Derrubam-se as árvores, substituindo-se a vegetação por outros tipos de uso do solo e atividades econômicas.
O enfrentamento da extinção da floresta se dá por meio da conservação. Entretanto, muitas vezes o movimento ambiental atribui um valor abstrato e indireto para a Amazônia – ela é um sumidouro de carbono, reguladora do ciclo da água, ou repositório da biodiversidade. Percebe-se a floresta como um elemento externo importante para a vida social e econômica.
Tanto atividades econômicas que promovem o desmatamento quanto parte do ambientalismo, portanto, possuem um ponto em comum. Ambos apresentam uma visão da Amazônia como um espaço predominantemente da Natureza. Ela estaria além da vida social imediata.
Esse modo de ver tem origem e representa a perspectiva do estrangeiro. Ele constitui um dos principais problemas de gestão da floresta e da formação do Brasil. Quando o assunto é Amazônia, o brasileiro pode ser tão gringo quanto, bem, os próprios gringos.
A invasão do olhar estrangeiro
O olhar estrangeiro se estabeleceu na Amazônia e na América do Sul através de uma invasão. Em 1542, Gaspar de Carvajal, frade dominicano espanhol, acompanhou a expedição estrangeira que pela primeira vez navegou os rios Negro e Amazonas, liderada pelo capitão e governador da cidade de Santiago, Francisco de Orellana.
Ao penetrar em um mundo desconhecido, os exploradores europeus traziam consigo seu ponto de vista de colonizadores medievais, seus ideários, propósitos e mitos. As crônicas de Gaspar, por exemplo, utilizaram o termo amazonas – retirado do imaginário europeu – para descrever as índias que lutavam junto com os homens de suas tribos.
Aos olhos de Gaspar de Carvajal, a natureza amazônica se revelava grandiosa, mas sob o viés europeu. Uma natureza grandiosa em seus usos potenciais. “…A terra é tão boa, tão fértil e tão natural como a de nossa Espanha (…). É uma terra temperada, onde muito trigo será colhido e todas as árvores frutíferas crescerão; além disso, está preparada para criar todo o gado (…)”, ele escreveu.

Ao mesmo tempo, em meio à Amazônia os exploradores se depararam com “aldeias tantas e tão grandes e (…) tanta gente” e “muitos caminhos, largos como estradas reais”. Em muitos trechos da viagem, a região se mostrava bastante povoada. “Houve dias de passarmos por mais de vinte aldeias”, afirmou o frade, e uma delas possuía muitos bairros e portos, estendendo-se por mais de duas léguas.
Mas nenhum reconhecimento era dado a esses povos amazônicos. Pelo contrário, os indígenas eram retratados como alienígenas em uma terra sem dono, à qual os exploradores, a serviço do rei de Espanha, prontamente se declarariam donos.
Para tanto, bastaria a própria palavra. Em uma ocasião, o destacamento do capitão Francisco de Orellana atacou e saqueou uma pequena aldeia em busca de comida. Em seguida, o capitão mandou chamar os caciques do lugar.
“Recebeu-os o Capitão”, diz o relato do frade Gaspar, “(…) e lhes falou longamente da parte de Sua Majestade e em seu nome tomou posse da terra”. Ignorava-se a civilização ali instalada. Em nome de um rei do outro lado do Atlântico, estabelecia-se o domínio estrangeiro. Cuja imaginação projetava um futuro de trigo e gado – duas espécies exóticas à Amazônia.
Do descobrimento para a ciência
Em 1913, o Museu de História Natural dos Estados Unidos organizou uma expedição para a América do Sul, da qual participou o ex-presidente do país, Theodore Roosevelt. No Brasil, a expedição foi liderada por Cândido Mariano da Silva Rondon, o maior explorador do Centro-Oeste e da Amazônia brasileira. E por isso ganhou o nome de Expedição Rondon-Roosevelt.
A parte principal e mais difícil da expedição foi a descida de um rio, que depois passou a se chamar rio Roosevelt. Com nascentes no estado de Rondônia – na época, ainda parte do estado de Mato Grosso -, o curso do rio se estendia em direção noroeste. A região ainda não havia sido explorada, sendo desconhecida até mesmo para Rondon.
A expedição enfrentou grandes desafios, com acidentes, perda de equipamentos, fome, doentes e mortos. O rio corria por um vale com relevo muito acidentado, difícil de vencer. Aos olhos dos exploradores, a natureza se mostrava inóspita. E ao contrário do relato do frade Gaspar de Carvajal, a Expedição Rondon-Roosevelt quase não se deparou com índios.
Theodore Roosevelt sobreviveu à malária e a um ferimento na perna. Mais tarde, ao retornar da viagem, ele escreveu uma carta ao curador de paleontologia do Museu de História Nacional. O curador havia publicado um trabalho cujo principal argumento afirmava que o clima determinava a evolução humana.
Em sua carta, Roosevelt exprimia a opinião de que o livro tinha sido “um dos melhores trabalhos atuais”. A noção de um efeito determinante do clima sobre a evolução dos seres vivos e dos seres humanos consistia uma aplicação mecanicista das teorias de Charles Darwin ao mundo natural e social.

O final do século 19 e início do século 20 constituiu o auge da colonização européia dos trópicos. Questões a respeito do clima, de raças e de políticas coloniais se amalgamaram à interpretações do trabalho de Darwin, fortalecendo-se o viés científico do determinismo ambiental.
A adaptação ao meio ambiente era alçada ao posto de mecanismo dominante da mudança evolutiva e social. Seguidor de tal viés, o curador de paleontologia do Museu de História Nacional dos EUA sustentava que o clima era o principal indutor da evolução das espécies.
O viés científico do determinismo ambiental afetou o olhar estrangeiro da Amazônia. Os cientistas ocidentais passaram a favorecer a noção de que fatores ambientais eram determinantes para a formação das sociedades. O desenvolvimento cultural humano se daria basicamente como adaptação às condições ambientais.
Para o estrangeiro, as florestas tropicais seriam um elemento limitante, inóspito, desafiador ao florescimento cultural. No caso das sociedades dos trópicos, pesquisadores estrangeiros as classificaram como cultural e biologicamente primitivas – uma forma de afirmar, nas entrelinhas, o progresso e superioridade ocidentais.
Nas décadas de 1950 e 1960, o viés científico tomaria a forma de uma teoria pela qual se argumentava que a ocupação humana da Amazônia era uma fato recente. A floresta teria restringido a presença de grandes populações, bem como o desenvolvimento de culturas que não fossem ‘primitivas’.
Se os primeiros invasores ignoraram as civilizações da Amazônia, os estrangeiros de meados do século 20 quase as apagaram das páginas da história. Utilizaram-se da ciência para propor um ponto de vista, em formato de teoria, carregado de valores implícitos e com fortes desdobramentos políticos.
O viés científico se espalhou e a floresta tropical amazônica passou a ser retratada como um ambiente virgem, inalterado pela ação humana. Visão que perdura até hoje. Centros de pesquisa ainda retratam a Amazônia como um dos “poucos lugares da Terra (…) tão ricos em biodiversidade e longe da influência humana”.

Fonte: CNN/Albert Frisch
A coleção de quase 100 imagens amazônicas do fotógrafo alemão Albert Frisch, tiradas entre 1867 e 1868, é descrita como o testemunho de um passado imaculado. Nessa idealização, as “cabanas de palha ficam em clareiras cercadas por floresta tropical intocada”. As cabanas e seus moradores são apresentados como bolhas de humanidade em meio a uma floresta inacessível.
O olhar estrangeiro permeou a história brasileira, desde o descobrimento até os dias atuais. E alem da floresta, moldou um elemento estruturante da constituição do país: o uso e ocupação da terra.
Sesmarias e concentração de terras
Os colonizadores estrangeiros introduziram uma nova relação com o território, distinta daquela dos povos originários. A coroa portuguesa aplicou no Brasil o sistema das capitanias hereditárias. A autoridade máxima da capitania tinha, entre outras responsabilidades, o controle da distribuição das terras.
Uma parcela da capitania, denominada de sesmaria, podia ter a posse transmitida a um colono. Este ficava encarregado de aproveitar economicamente o solo. Caso se verificasse a subutilização da terra, a Coroa tinha o direito de revogar a posse da sesmaria.
Para atrair colonos, o ordenamento das sesmarias no Brasil se caracterizou por grande flexibilidade. Várias concessões eram dadas a uma mesma pessoa ou família. Não se respeitavam os limites de área máxima permitida, tampouco as obrigações de exploração e de registro.

Produziu-se uma grande concentração, com latifúndios espalhados nas diferentes capitanias. Terra, principal instrumento econômico, traduziu-se em poder, surgindo uma elite colonial na forma de oligarquias regionais. Uma elite com corações e mentes ainda no estrangeiro, a cujos interesses atenderia por meio de um regime agrário e exportador. Ela exercia o controle da administração da colônia – em nome da metrópole – e monopolizava o recebimento de novas sesmarias.
Foi o caso, por exemplo, de Thomé de Souza. O primeiro governador-geral do Brasil, cargo mais alto da burocracia colonial, possuía uma sesmaria junto ao rio Ipojuca, que corta, do sertão até o mar, o que é hoje o estado de Pernambuco. Em 1565, Thomé de Souza recebeu outra sesmaria na região do rio Real, que banha os estados da Bahia e de Sergipe.
A elite colonial passava, então, a revender a posse das terras para terceiros, subvertendo o protocolo de concessão pela Coroa. Além disso, com a liberalidade de aplicação do instrumento das sesmarias e a falta de controle, uma vez que o solo se exaurisse, os colonos tomavam mais terras no interior, mesmo sem a concessão da posse.
A terra ocupada irregularmente podia ser regularizada posteriormente, através de uma concessão arranjada pela elite colonial. Dessa forma, o instrumento das sesmarias sofreu completa subversão, e a ocupação de novas áreas sem a concessão preliminar da posse se tornou frequente.
Em 1795, a Coroa Portuguesa instituiu um regulamento, chamado de Lei das Sesmarias, buscando organizar a situação fundiária na colônia brasileira. O documento ressaltava, em suas linhas iniciais, os “abusos, irregularidades, e desordens, que têm grafado, estão, e vão grafando em todo o Estado do Brasil, sobre o melindroso Objeto das suas Sesmarias”.
A iniciativa foi em vão. A oligarquia manteve o controle sobre as sesmarias e sua distribuição, mesmo sem cumprir a obrigatoriedade de exploração econômica da terra. Em um espaço continental, o olhar estrangeiro medieval havia erguido, sobre os fundamentos da concentração de terras e poder, uma sociedade híbrida, rural-exportadora, com raízes fincadas no solo europeu e vida nos trópicos.
Surgimento do Império brasileiro e das terras devolutas
Quando o Brasil encerrou o período colonial e se tornou Império, Dom Pedro I congelou as concessões de sesmarias. O governo encomendou ao Conselho de Estado, instituição formada por conselheiros e com papel mediador entre o Imperador e os governadores das províncias, que elaborasse uma nova lei.
A falta de controle ao longo do período colonial resultou em uma situação caótica de uso e ocupação dos solos. Era impossível apontar os limites entre propriedades – fossem elas privadas ou públicas. Nesse sentido, a lei apresentava um caráter reformista e modernizador.

do Brasil. Fonte: Wikimedia.
No entanto, a elaboração da lei se deu sob a tutela da elite local – fazendeiros, sesmeiros e grandes posseiros, possuidores de extensas áreas. O novo Império atravessava um novo ciclo – o café – do mesmo modelo econômico rural, exportador e guiado pelo mercado externo. A lei atendeu, na prática, aos interesses da elite, e um de seus maiores avanços foi consolidar a interpretação da terra enquanto propriedade e mercadoria.
A lei regularizou o direito ao domínio privado das sesmarias não confirmadas e das posses – ou seja, das invasões irregulares. Ao mesmo tempo, estabeleceu que as demais terras do país, sem título de domínio ou de posse, consistiam terras devolutas, de titularidade do Império e proibidas de ocupação. Poderiam ser cedidas somente a título oneroso – pela compra da propriedade. Caberia às autoridades fiscalizar o aproveitamento econômico das terras concedidas ou com posse legitimada.
O olhar estrangeiro cimentava o acesso e domínio do território a um modo de exploração específico. A terra se tornava, em primeiro lugar, mercadoria. Os índios, também chamados de gentios, ficaram reduzidos à elementos de resistência à expansão das propriedades.
Mas a discriminação não se restringiria somente aos indígenas. A lei desconsiderava pequenos posseiros e colonos, ou grupos tradicionais, que em meio ao caos fundiário também ocuparam terras, e que desenvolviam com elas outros vínculos que não se relacionavam com o modelo latifundiário, de produção agrária em grande quantidade para exportação.
Tal parcela da população rural, contudo, também passou a acionar a lei na defesa de interesses particulares. Em uma disputa na Vila de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 1863, o lavrador Ignácio Luiz de Oliveira, testemunha de um processo jurídico, afirmaria em frente ao juiz que “a respeito de derrubar matos virgem da nação ele próprio (…) tem derrubado e não há quem não derrube”.
Ao reproduzir o ponto de vista e as práticas da elite, pequenos posseiros e colonos endossavam uma ordem social e jurídica que lhes era desfavorável. Em especial se em disputa com grandes proprietários, quando o pêndulo pendia sempre para o lado mais forte.
O primeiro ordenamento jurídico do uso e ocupação dos solos durante o Império também falharia em seus objetivos. A invasão e ocupação das terras devolutas do Estado brasileiro continuou. Os mesmos moldes de formação da elite colonial, regional, oligárquica, agrária e ligada a países externos, se preservaram.
A formação fundiária permaneceria, em grande medida, desorganizada e sem a tutela do Estado. Para um país que alcançara a independência e iniciava uma etapa de maior crescimento, estavam colocadas as condições para o surgimento de conflitos na área rural.
Concentração através da grilagem
O poder econômico e político se baseava no controle da terra. Para tanto, era necessário manter a posse concentrada nas mão de poucos. Mas a falta de controle permitia a ocupação de terras por qualquer pessoa.
Foi o que aconteceu, por exemplo, no Estado de Goiás. A partir da década de 1930, milhares de migrantes pobres se deslocaram para lá, em especial da vizinha Minas Gerais. Eles iam em busca de pequenos trechos de terra devoluta, em um ciclo de derrubada de matas, queimadas e cultivo que se iniciou no sul e avançou ao longo dos anos para o centro e norte do estado.

por colonos em Goiás. Fonte: Silva e Bell (2018)/Henry Bruman.
Um relatório do Conselho de Imigração e Colonização, em 1949, retratando a situação da posse de terras em Goiás, resumiria habilmente a situação fundiária: “uma população sem terra em uma terra despovoada”.
Todavia, a divisão da terra, elemento central da vida econômica e social, por uma população de pequenos e médios produtores, ameaçava o controle exercido pelas elites regionais. Sobre essa população de pequenos e médios produtores, passaram então a agir os grileiros.
Pequeno grupo de pessoas que utilizavam quaisquer métodos, inclusive a violência, os grileiros expulsavam os pequenos posseiros e arranjavam a regularização jurídica da posse. Tinham ganhos com a especulação e venda das terras.
Os grileiros representavam o braço truculento das elites, pelo qual se garantia o controle do acesso à terra. E como as elites dominavam a administração pública do Estado, os grileiros constituíam parte de uma rede que abrangia juízes, promotores, delegados e deputados.
Um velho fenômeno no país, a ocupação de terras devolutas tomava uma forma nova, a grilagem. Esta mitigaria a competição de pequenos posseiros e colonos, e continuaria o projeto de expropriação de índios em boa parte do território nacional. O preço a pagar, no entanto, seria o aumento da violência no campo.
O faroeste brasileiro
Em uma manhã de janeiro de 1988, cerca de 70 homens armados com espingardas, os rostos pintados de carvão, invadiram o município de Moju, no interior do Pará. Eram pequenos colonos de uma mesma comunidade de lavradores, revoltados pela tortura e assassinato de dois deles por policiais militares e pistoleiros.
Três dias antes, dois lavradores da comunidade estavam em um bar da cidade. Na conversa, bêbados, afirmaram que iriam matar um fazendeiro local, chefe do bando de pistoleiros que vendia serviços de expropriação de terras de pequenos posseiros do município.
A conversa caiu no ouvido do delegado da cidade, que mandou prender os dois colonos por importunação e ameaça contra a vida alheia. De madrugada, o sargento da polícia local, acompanhado de outros pistoleiros, retirou os colonos da delegacia. Levados para fora da cidade, os dois foram obrigados a abrir covas rasas, torturados, executados e queimados.
Descobertos os cadáveres, a notícia do crime se espalhou por Moju. Os demais lavradores da comunidade, inconformados com tanta violência, decidiram agir, olho por olho, dente por dente. Invadiram a cidade para o linchamento do chefe dos pistoleiros e do sargento de polícia responsável pelos assassinatos.
Ambos fugiram. O grupo queimou a delegacia, derrubou e queimou a casa do fazendeiro chefe dos pistoleiros. A ação foi rápida, e o grupo de homens logo desapareceu. Quando o reforço policial chegou à cidade, não havia mais nenhum rastro dos revoltosos.
Até a década de 1970, a população de Moju dependia de uma economia rural pautada na extração de produtos da floresta e em pequenas roças e hortas para subsistência. O panorama mudaria com a chegada de grandes projetos agroindustriais a partir daquele período.
As disputas pela terra entre grandes e pequenos, em um contexto de ocupações irregulares, estabeleceu um cotidiano de tensões e violência no município, que perduraria pelas décadas seguintes. A invasão de Moju na manhã de setembro de 1988 representaria um entre vários episódios de conflito.
A história do estado do Pará ilustra o capítulo mais recente da expansão fundiária brasileira na Amazônia. No início do século 20, o fim do ciclo da borracha no norte do Brasil trouxe consigo uma primeira onda de ocupação das terras do Estado por pequenos posseiros. Eles desenvolviam um entendimento singular de propriedade, sem delimitaçao clara de tamanhos, com caráter mais flexível nos usos e moradias do mesmo local por diferentes pessoas. Era através do trabalho que o colono se identificava enquanto dono de um roçado – do produto de seu trabalho.
A concentração de terras através de propriedades privadas nas mãos de uma pequena oligarquia se fortaleceria a partir da década de 1930. O Estado Novo de Getúlio Vargas instituiu o programa ‘Marcha para Oeste’, incentivando a ocupação de terras no interior do Brasil. Mas é na década de 1950, sob o governo auto-proclamado desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que o destino da Amazônia e do estado do Pará seria significativamente modificado.

Fonte: Arquivo Público do DF/Divulgação.
O Governo JK encampava o ideal urbano e industrial, importado de países como os Estados Unidos. Foram anos de maciços investimentos externos no país. Além de estimular a instalação de empresas multinacionais, em especial na região Sudeste, buscava-se reduzir o caráter intensamente regionalista de organização do país. Para tanto, além de erguer uma nova capital, o governo desenvolveu projetos de integração entre os diversos estados brasileiros.
Um dos principais eixos de integração foi a construção de rodovias, que ao mesmo tempo fomentava o desenvolvimento de empreiteiras e da nascente indústria automobilística. E uma das rodovias implantadas pelo Governo JK alteraria a marcha da história da região amazônica: aquela ligando a capital do Pará, Belém, com a nova capital do país, Brasília.
Para justificar a construção da rodovia Belém-Brasília, o governo atualizaria o olhar estrangeiro para representar a Amazônia. Ela seria apresentada como uma região atrasada, um inferno verde, vazio demograficamente. Ao mesmo tempo, ela seria rica em potencialidades, em particular as terras e seus minérios, que poderiam ser explorados uma vez integrada ao restante do Brasil.
A rodovia, junto com outras formas de incentivo à ocupação, como crédito e assentamentos, alterou profundamente o estado do Pará. Em 14 anos, em grande medida devido à imigração, a população aumentou 20 vezes – de 100 mil para 2 milhões de habitantes. O número de cidades e povoados cresceu de 10 para 120. Apesar de grande parte da população ter a subsistência como modo de vida, o expansionismo levou ao aumento da concentração das terras.
As décadas de 1960 e 1970 trariam outros dois fatores de estímulo à ocupação amazônica. Com o advento da ditadura militar brasileira, em 1964, reforçava-se a visão estrangeira da floresta amazônica enquanto uma área inóspita e vazia. Os militares também promoveram um programa de ocupação, tendo como mote a frase ‘Terra sem homens para homens sem terra’. O segundo fator seria o ciclo do ouro no oeste do Pará.
O estado assistiu a uma modernização da formação fundiária instituída desde a época da colônia. Grandes proprietários, apoiados pela grilagem, estabeleceram uma rede de agentes dentro e fora da administração pública. Beneficiavam-se, dessa forma, de projetos de fomento e incentivo estatal. A ocupação de novas terras consistia em um grande esquema imobiliário e especulativo.
O resultado se expressou em violência e concentração fundiária. Intimidações, trabalho forçado e assassinatos compuseram a trama dos conflitos pela posse da terra na área rural. Em 2003, quase 70% do território paraense não possuía nenhuma forma de cadastro ou regularização junto ao Estado. Dos cerca de 40 milhões de hectares cadastrados, 41% representavam latifúndios.
Terra de estrangeiros

Em todo o Brasil, estimativas conservadoras de 2006 indicavam que o total de terras suspeitas de grilagem somavam cerca de 100 milhões de hectares. Uma área aproximadamente do tamanho do Egito e correspondente a quase a soma da Espanha e da França. O projeto colonial e oligárquico se adaptou à modernidade, à criação de um país independente, com administração e instituições nacionais. E, com isso, perpetuou-se até o século 21.
Em 2011, minifúndios e pequenas propriedades somavam 5,2 milhões de imóveis rurais no Brasil – quase 91% do total. Ocupavam, no entanto, apenas 29,5% da área total, ou pouco mais de 150 milhões de hectares. As médias propriedades, aproximadamente 401 mil imóveis, ou 7% do total, representavam cerca de 121 milhões de hectares – ou 23% do total. Estavam nas mãos dos latifúndios, ínfimos 2% dos imóveis rurais do país, cerca de 47% da área total, ou 245 milhões de hectares.
Deve-se ressaltar que o olhar estrangeiro, desde a invasão, sempre visou o benefício estrangeiro. Guiados pelo consumo e interesse europeus, os ciclos econômicos da colônia ocorreram para enriquecimento da metrópole. E se o olhar estrangeiro se atualizou ao longo da história brasileira, também se atualizaram os modos pelos quais se extraíam os benefícios ao estrangeiro, direta e indiretamente.
A elite brasileira historicamente preservou a parceria com os interesses internacionais. Nas últimas décadas, no tocante ao controle das terras, esse laço se intensificou e ficou mais exposto, o que pode ser exemplificado por uma das fronteiras agrícolas mais recentes do Brasil, a área denominada de Matopiba.
Reunindo o interior dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a partir de 1980 o Matopiba foi alvo de políticas estatais de fomento ao cultivo intensivo de grãos para exportacao. A expansão agrícola se acelerou por volta do ano 2000, testemunhando, no caso da soja, um crescimento da área de plantio em pelo menos 10 vezes. Como em outros lugares do país, a chegada e expansão da indústria agrícola em larga escala promoveu uma intensificação nos conflitos pela terra.

Dessa vez, a coordenação ou subordinação da elite local ao estrangeiro se deu de forma mais entranhada. Estima-se que empresas com participação ou controle internacional detinham em 2015 a posse de cerca de 1,5 milhões de hetares no Matopiba – quase dez vezes a área da cidade de São Paulo.
Além da produção de mercadorias agrícolas primárias, a participação estrangeira procurava ganhar com a valorização da terra. Entre 2000 e 2015, municípios do Matopiba experimentaram um forte crescimento no preço da terra, de 252% a 548%, dependendo do uso e ocupação do solo. Ganhos significativos também resultavam da compra e conversão de terras brutas em áreas produtivas.
Brechas na legislação permitiam o controle de terras por empresas brasileiras de capital majoritário estrangeiro. Além disso, entre outras formas utilizadas para viabilizar a posse por estrangeiros, incluíam-se a compra de debêntures conversíveis em ações, a aquisição de ações preferenciais, sem poder de voto, a cessão de direito de superfície e a compra de empresas agrícolas proprietárias de terras. Irregularidades quanto à posse não são raras.
Iniciado na colônia para enriquecer a metrópole e as elites locais, o agronegócio brasileiro desde o princípio se inseriu em uma estrutura globalizada. Até hoje, o agronegócio do Brasil é uma das melhores expressões da globalização em todo o mundo. E, em um mercado global em transformação, ele também se transforma.
O Brazil do agronegócio
O capitalismo do século 21 consolidou uma rede de cadeias globais de mercadorias. A produção pode estar fragmentada em diversos elos, localizados em diferentes países, cada um representado uma etapa do processo produtivo. Essa rede está sob o controle de grandes grupos multinacionais, responsáveis por mais de 80% do comércio mundial.
As vendas anuais das empresas multinacionais anuais equivalem a aproximadamente metade do PIB global. A cadeia global de produção e comércio de mercadorias por elas controladas constituem o centro da economia mundial. Em geral, a etapa produtiva se distribui entre nações do Sul global, enquanto o consumo e os ganhos financeiros se concentram nas nações do Norte, onde ficam as sedes das multinacionais.
No setor agrícola não é diferente. A cadeia global de produtos agropecuários é dominada pelo oligopólio de quatro gigantes do agronegócio, internacionalmente conhecidas pela abreviatura ABCD. São elas as multinacionais Archer Daniels Midland – ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. As três primeiras tem sede nos Estados Unidos, a última, na França. Todas possuem um modelo de negócios complexo e integrado, abrangendo desde o cultivo de grãos, passando por financiamento e comércio, até o consumo de produtos de origem agrícola.

elas controlam a cadeia global de produtos agrícolas. Fonte: Murphy, David e Clapp (2012).
Ao se constituírem em uma cadeia de produção agrícola mundial, essas companhias adquiriram um poder excepcional. Elas se beneficiam do acesso privilegiado aos diversos estágios da produção e comércio de mercadorias. As conexões em campo, do cultivo até o consumo, alimentam os braços financeiros das corporações, o que as permite explorar e especular no mercado de produtos agrícolas de modo privilegiado.
O crescimento dessas corporações foi acompanhado de uma intensa internacionalização do agronegócio no Brasil. A começar pelas exportações. Como revelam os resultados de 2018, ano de uma safra recorde, o maior exportador de soja produzida no Brasil foi a Bunge, correspondendo a cerca de 17,8 milhões de toneladas, seguida por Cargill, com 12,5 milhões, pela Dreyfus e pela chinesa COFCO. A ADM foi a sexta maior exportadora.
As empresas ABCD também apresentam uma presença ramificada no setor agrícola brasileiro. Segundo relatório da organização não governamental Oxfam, em 2012 Cargill, ADM e Bunge respondiam por mais de 60% do financiamento total da produção de soja no Brasil, além de fornecerem sementes, fertilizantes e agroquímicos para produtores rurais. As empresas contam com instalações próprias para armazenamento e meios próprios de transporte ferroviário e marítimo.
Além do plantio e exportação de soja, as atividades das empresas incluem também plantas de processamento e fabricação de óleo de soja, usinas de biodiesel, plantios de cana-de-açúcar e produção de etanol. Suas operações se estendem para outras áreas, como fertilizantes, carne e outros óleos vegetais. A Dreyfus, por exemplo, é um maiores produtores mundiais de suco de laranja, em grande medida graças à pose de terras brasileiras destinadas ao plantio de laranja.
Tanto o exemplo do Matopiba quanto das empresas ABCD mostram que o agronegócio brasileiro há tempos se internacionalizou. E prospera através da globalização.
O velho e a extinção do novo
O desmatamento da Amazônia (e também do Cerrado) não pode ser dissociado da participação estrangeira, que se consolidou como o coração financeiro e principal vetor da expansão do agronegócio no Brasil. Os interesses estrangeiros e a elite nacional ainda se confudem.
No Brasil, a linha de frente das corporações estrangeiras, que controlam a cadeia global do agronegócio, toma a forma de indivíduos, profissionais liberais, políticos, corretores ou firmas, cuja fortuna se vincula à exploração de madeira e à agropecuária. E parte dela faz dinheiro pela apropriação privada – a grilagem – de terras públicas e pelo desmatamento da Amazônia.
Essa cadeia é a atualização de um projeto de quase 500 anos de história. O projeto ” trigo e gado”, iniciado pelos primeiros invasores europeus, como Gaspar de Carvajal, para o enriquecimento de reis estrangeiros e seus fidalgos – hoje em dia, de acionistas e executivos – a partir da exploração predatória de um território exótico.
Projeto imposto pelo velho continente com um preço exorbitante. E que até hoje se reproduz, induzido e co-patrocinado por corporações e investidores estrangeiros. O preço do extermínio de uma civilização.

da Amazônia pelas populações indígenas. Fonte: Clement et al (2015).
A Amazônia que os primeiros europeus encontraram não era um espaco natural, virgem e desocupado. Tal visão colonialista foi demolida por meio de pesquisas arqueológicas e etnógraficas, entre outras. A investigação do passado amazônico revelou que sociedades humanas alteraram significativamente o ambiente, muitas vezes de modo intencional.
Em vez de intocada, a floresta foi, em grande medida, domesticada. Ao longo de milhares de anos de ocupação, a Amazônia se transformou em um habitat humano, integrado à e parte da cultura dos povos locais e de sua vida social. Estima-se que os primeiros humanos se instalaram na Amazônia há aproximadamente13 mil anos atrás. Modificações no ambiente amazônico se deram logo após a chegada dos primeiros grupos de caçadores-coletores.
As sociedades evoluíram, formando aldeias e intensificando o processo de domesticação da paisagem. As intervenções passaram a incluir produção de alimentos em hortas, pomares e campos cultivados, a criação de trechos de floresta plantada e de trechos de terra preta, bem como terraplenagem.
Os últimos 3.000 anos da história dos povos pré-colombianos, antes da invasão estrangeira, testemunharam a constituição de um mosaico rico e complexo de diversas sociedades, com centros ocupacionais ao longo das várzeas dos rios, e interligados por rotas comerciais. Alguns dos assentamentos teriam alcançado proporções urbanas. Também ocorriam sociedades de organização sócio-política mais simples, com menor desenvolvimento técnico e econômico.
A ocupação da Amazônia levou a efeitos generalizados e duradouros. A civilização amazônica se baseava na floreta de pé, mas não em uma floresta natural e intocada. Um floresta humanizada, que se preservava como um ambiente resiliente às mudanças, sustentando ao longo de usos intensivos praticados pelos povos indígenas ao longo de milênios.
Mais do que a destruição da natureza, o desmatamento da Amazônia é a expressão do extermínio das civilizações pré-colombianas e suas culturas. Tanto o discurso e interesse daqueles que derrubam a mata para explorar a terra, quanto o discurso daqueles que a imaginam como um espaço ideal e intocado, reproduzem e atualizam, em roupagens diferentes, a mesma negação das culturas que fizeram da floresta suas casas, seus rebanhos, suas estradas e hidrovias, seus campos, seus solos, suas estruturas.
Devorar o velho antes que seja tarde
É irônico que, no contexto atual do aquecimento global e das mudanças climáticas, vozes no estrangeiro se avolumam a respeito do risco de uma extinção em massa. Se o aquecimento continuar, o modo de vida do Ocidente poderia igualmente enfrentar o mesmo risco, sofrendo rupturas e colapsos. O velho, responsável pela extinção de outras civilizações, teme a própria extinção.
A Amazônia ganha ênfase mais aguda, como elemento essencial para evitar esse cenário mais desastroso. Vozes no campo internacional se avolumam pela preservação da floresta. O que fortalece a esperança de que, em especial devido à presidência dos Estados Unidos recém inaugurada, o estrangeiro modificaria sua atitude histórica. E com isso, a elite nacional brasileira pararia com a exploração predatória.
O problema é que a idéia de ruptura ou colapso das sociedades centrais e ricas do Ocidente ainda possui a conotação de algo ideal, imaginário. Uma possibilidade distante da vida cotidiana. Predominam as necessidades e interesses concretos e mais imediatos, a partir dos quais as sociedades se organizam e estruturam. A cadeia global do agronegócio compõe um desses pilares.
A crença no estrangeiro lembra a história do sapo e do escorpião. O segundo promete não fazer mal ao primeiro, se for transportado para a outra margem do rio. Mas quando estão no meio da travessia, o escopião não resiste à sua natureza e pica o sapo. Ambos afundam nas águas do rio. O escorpião bem poderia ter dito ao sapo: “faça como eu falo, não faça como eu faço”.
Se depender da iniciativa estrangeira é uma escolha arriscada, poderia o Brasil reverter o processo de destruição da Amazônia? As sementes para tanto foram lançadas há quase um século atrás, pelos modernistas. Ao questionarem a contituição do Brasil e sua identidade, bem como as elites nacionais, surgiu o movimento antropofágico.

“Contra todos os importadores de consciência enlatada”, afirmava o Manifesto Antropófago, publicado em 1928 na primeira edição da Revista de Antropofagia por Oswald de Andrade. Bebendo fortemente na questão indigenista, o manifesto dizia que “antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade”. Para se formar uma identidade cultural brasileira, e não uma replicação subserviente do estrangeiro, propunha-se a antropofagia – ou canibalismo.
Implicava em um reencontro com a cultura do novo mundo, índigena – o canibalismo, utilizado como símbolo pelo movimento, era um ritual de grupos Tupinambás. O índios era a representação de um conflito externo e interno de identidade do país, tanto entre eles – os brasileiros originais – e os estrangeiros europeus, quanto entre eles e as elites locais, os estrangeiros nacionais. Uma cultura plenamente brasileira exigiria que as idéias externas tenham sido devoradas, digeridas e apropriadas.
A saída, portanto, seria promover um novo Movimento Antropófago. Talvez, então, o país formasse um modo de viver no qual a floresta e a experiência social se integrassem; no qual desenvolvimento sócio-cultural e desenvolvimento natural se mesclassem e caminhassem juntos, em vez do antagonismo observado no presente. E ao devorar o velho e o estrangeiro, encontrassemos ou dássemos vazão a uma identidade original, brasileira.
Uma saída que depende de urgência. Deve-se devorar o velho antes que seja tarde – para a Amazônia e para nós.
Fonte: Ciência e Clima



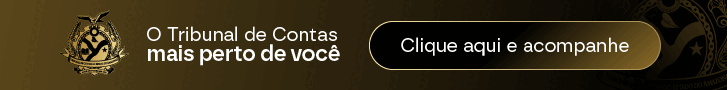
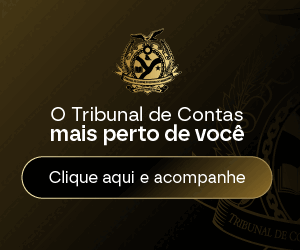















Comentários