Sobre o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. Ele disse nessa entrevista: “Temos de oferecer aos alunos uma formação mais ampla, com cursos que não se restrinjam ao conhecimento de cada área”.
Adalberto Val
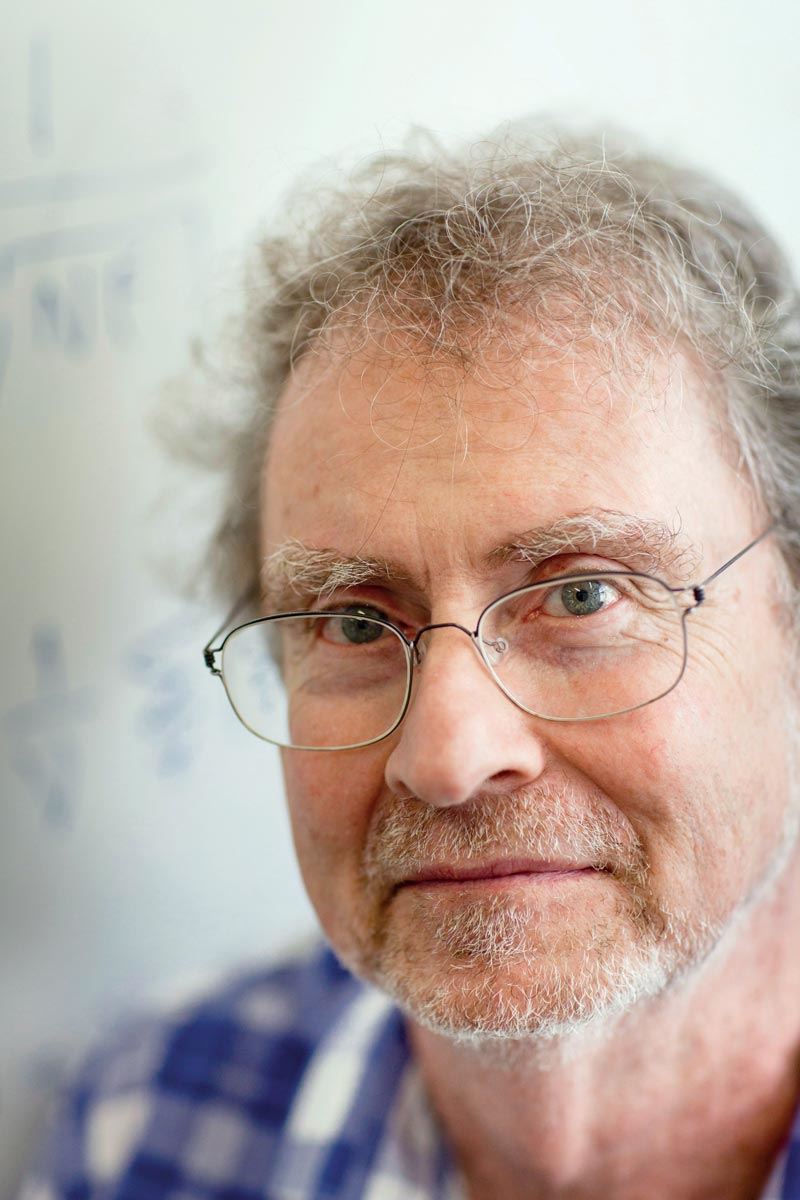
Desde que foi contratado por concurso na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1994, o físico Luiz Davidovich viu os grupos de pesquisa e o corpo de professores e de estudantes crescerem, mas sente falta de maior convivência entre os especialistas de áreas diversas. “Os professores das ciências sociais deveriam dar aulas eletivas para as turmas de física e de engenharia, e vice-versa”, exemplifica.
Desde que a pandemia começou, Davidovich passa pelo menos duas semanas por mês em uma casa de campo no município de Mendes, interior do estado do Rio. Sai menos do que gostaria para caminhar pelas estradas de terra ladeadas por árvores porque, como presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), passa a maior parte do tempo em reuniões on-line para discutir caminhos e ações para deter as constantes ameaças de cortes do orçamento para a ciência: “A situação é trágica”.
Você cursou a graduação em física na Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-RJ, na qual fez carreira a partir de 1977, logo após o doutorado nos Estados Unidos e o pós-doutorado na Suíça. Em 1994, mudou para o Instituto de Física da UFRJ. Por quê?
Havia um problema sério de orçamento na PUC. Uma das possibilidades seria aumentar o ingresso de estudantes, mas tínhamos objeções a isso, porque poderia prejudicar a qualidade da instituição, que era e ainda é muito boa. A Finep [Financiadora de Estudos e Projetos] pagava os salários dos professores do Centro Técnico-Científico, que eram maiores que os dos outros professores, mas depois de alguns anos parou. Isso gerou uma crise, porque a universidade não podia baixar salários. Foi uma situação difícil para todos. Uns 10 professores da PUC foram para o Instituto de Física da UFRJ. Vários fizeram concurso para professor titular. Fomos muito bem recebidos. O instituto começou com pesquisadores que vieram da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, César Lattes [1924-2005], Jayme Tiomno [1920-2011], Joaquim da Costa Ribeiro [1906-1960], José Leite Lopes [1918-2006] e Plínio Sussekind Rocha [1911-1972], foi progredindo e hoje tem um corpo de pesquisadores com protagonismo internacional.
Quais mudanças você testemunhou desde que chegou na UFRJ?
Vi crescer muito a pesquisa e novos laboratórios serem instalados, com apoio federal e da Faperj [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro]. Montamos um laboratório de óptica quântica no Instituto de Física [IF] e desenvolvemos uma colaboração forte entre os grupos teóricos e experimentais. A Coppe [Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia, da UFRJ] e outros institutos também tiveram um desenvolvimento fantástico, vieram os Institutos do Milênio e os INCTs [Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia], que permitiram a instalação de novos laboratórios.
Em sua opinião, quais são os pontos mais fortes e fracos da UFRJ, 100 anos depois da fundação?
O forte são as pessoas competentes, que têm feito um trabalho de qualidade em várias áreas. Por outro lado, sinto falta de uma convivência maior entre as áreas. Existe uma compartimentalização grande, um distanciamento entre áreas do conhecimento e cursos. Muitas unidades continuam isoladas. A engenharia está no campus do Fundão e a economia e a comunicação na praia Vermelha, mas os professores das ciências humanas e sociais deveriam dar aulas eletivas para as turmas de ciências exatas e de engenharia, e vice-versa. Na PUC eu almoçava com colegas da filosofia e da história e aprendia muito com eles. Como a UFRJ é muito grande, o mais comum é comer com colegas de meu grupo ou de outros do próprio IF. Houve ações para mitigar esse distanciamento, como a criação do Colégio de Altos Estudos, que promove debates transdisciplinares. Mas, depois de conhecer outras universidades, vejo que ainda falta algo mais consistente.
“Temos de oferecer aos alunos uma formação mais ampla, com cursos que não se restrinjam ao conhecimento de cada área”.
Algum exemplo?
Anos atrás, Lawrence Summers, então reitor da Universidade Harvard, comandou uma reforma do ensino da instituição e refez a estrutura dos currículos. Ele criou oito grandes blocos de disciplinas, abrangendo todas as áreas, e cada estudante tinha de fazer pelo menos uma disciplina em cada bloco. Eram disciplinas de mão na massa, um estudante da engenharia poderia participar de uma pesquisa feita pelo pessoal da sociologia e um da sociologia poderia entrar em um laboratório de biologia. Ele dizia que toda instituição que se preze deveria se reestruturar radicalmente a cada 25 anos. Em várias universidades dos Estados Unidos, o estudante calouro tem de participar, apresentando palestras, de um seminário, entre mais de uma centena oferecidos, sobre temas que vão desde fronteiras da ciência até história dos indígenas americanos.
Qual o objetivo?
Isso foi criado porque se percebeu que os alunos entravam na universidade com pouca articulação verbal e cultura geral. No Brasil, sinto falta de uma discussão sobre a própria estrutura da universidade e da necessidade de maior interdisciplinaridade. Temos de oferecer uma formação mais ampla, com cursos que não se restrinjam ao conhecimento de cada área. A UFRJ deveria não só fazer o que já faz bem, que é a pesquisa, os artigos científicos e a colaboração com a indústria, mas também promover reuniões e grupos de trabalho para pensar o Brasil. O país está sem pensamento, com P maiúsculo. A universidade tem a obrigação moral de colaborar para construir um Pensamento para o Brasil, ajudando a construir um projeto de nação e a definir prioridades, em um debate civilizado, capaz de respeitar e aproximar opiniões diferentes. Não é só na UFRJ. Há dois anos, a ABC lançou um documento, Repensar a educação superior no Brasil, com a participação de pessoas experientes, propondo uma formação mais ampla e um currículo obrigatório mais enxuto e mais disciplinas opcionais. A Universidade Federal do ABC já foi construída nesse sentido, a engenharia está ao lado da filosofia e o centro de ciências naturais lá é também de ciências humanas. A Universidade Federal do Sul da Bahia também foi feita assim.
Como presidente da ABC, quais suas batalhas atuais?
Estamos atravessando uma crise que eu nunca poderia esperar. Quando o Jacob Palis era o presidente e eu estava na diretoria, havia eventualmente uma crise. Agora é diária, com ataques à ciência, cortes de bolsas, cortes de orçamento. A situação é trágica. Estamos com uma campanha intensa no Congresso pela liberação de R$ 4,6 bilhões do FNDCT [Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico]. O Fundo arrecadou R$ 5,2 bilhões, mas apenas R$ 600 milhões foram liberados para este ano, o restante está contingenciado. Se continuar essa política econômica, seremos destruídos, com a falência não só de empresas como também de universidades. Nas reuniões com políticos, temos insistido que a saída da recessão passa pela ciência e tecnologia, incluindo ciências sociais e humanas, porque o Brasil ainda é um país muito desigual, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Precisamos de todo o sistema de conhecimento para o país crescer e não ter uma pauta de exportação dominada por commodities como soja e minério de ferro. Na sexta [7 de agosto], em uma reunião com senadores, falei de uma planta da Amazônia, o uxi-amarelo, Endopleura ushi, da qual se extrai a bergenina, uma substância anti-inflamatória que é vendida purificada por uma empresa multinacional por R$ 1.200,00 o miligrama. Em peso, a bergenina é 3.500 vezes mais cara que o ouro. A biodiversidade poderia ser uma fonte importante da economia nacional, as energias renováveis também, mas, em vez disso, vemos uma política econômica que despreza essas possibilidades, concentra-se em cortes de gasto e não tem um projeto de investimento que tenha alto retorno para o país. E não considera a relevância do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Atualmente mais da metade do petróleo brasileiro vem do pré-sal, viabilizado pela colaboração da Petrobras com químicos, geólogos, engenheiros e matemáticos de várias instituições, enquanto os economistas diziam que não tinha viabilidade econômica. Por isso que eu defendo que todo estudante de economia deveria fazer um curso obrigatório sobre a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico.
Fonte: Pesquisa FAPESP



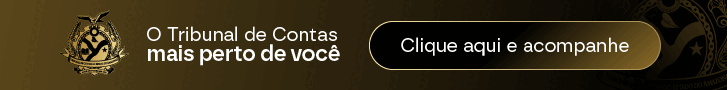
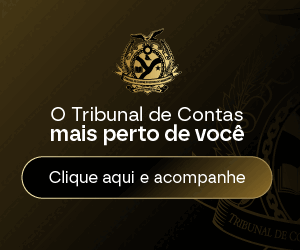















Comentários